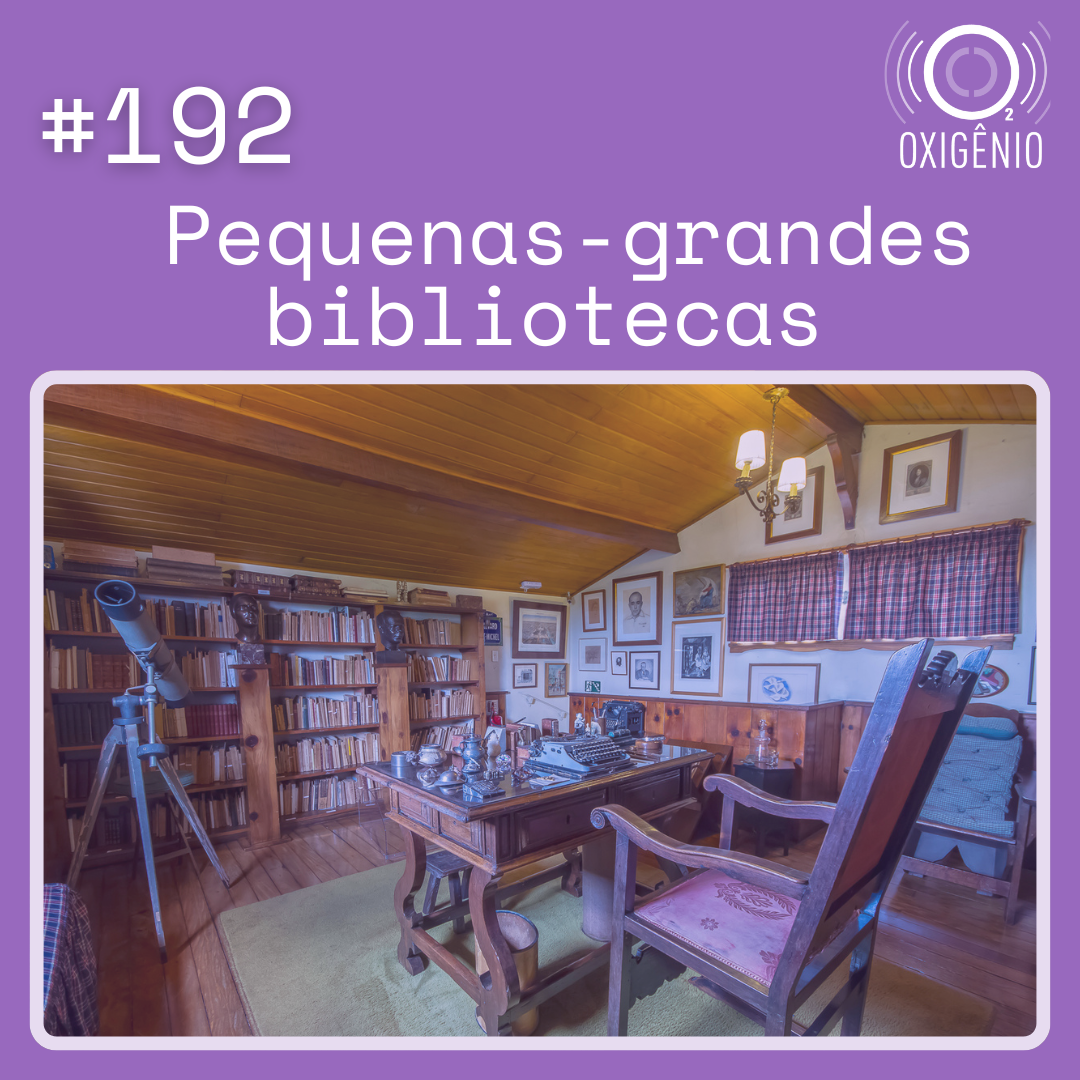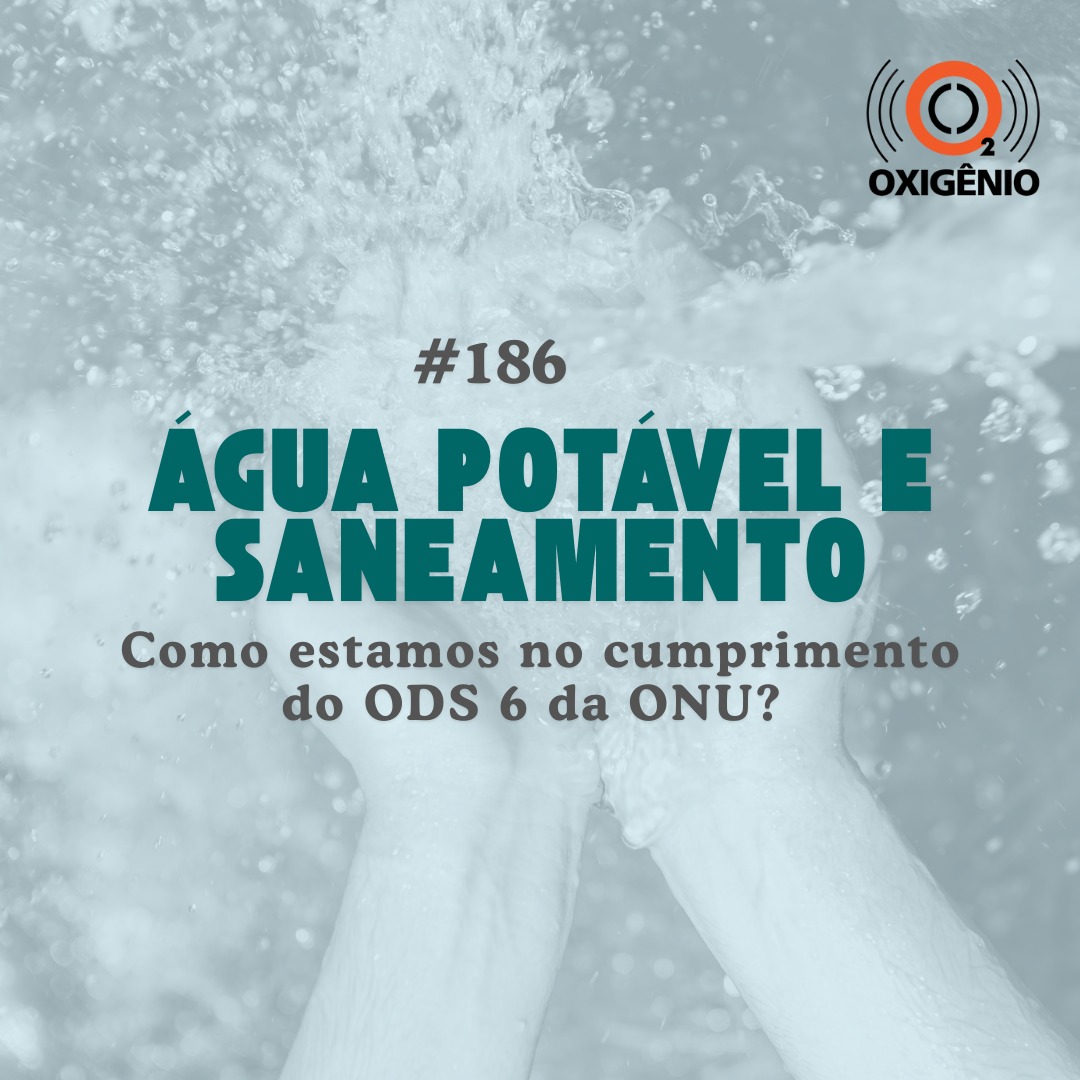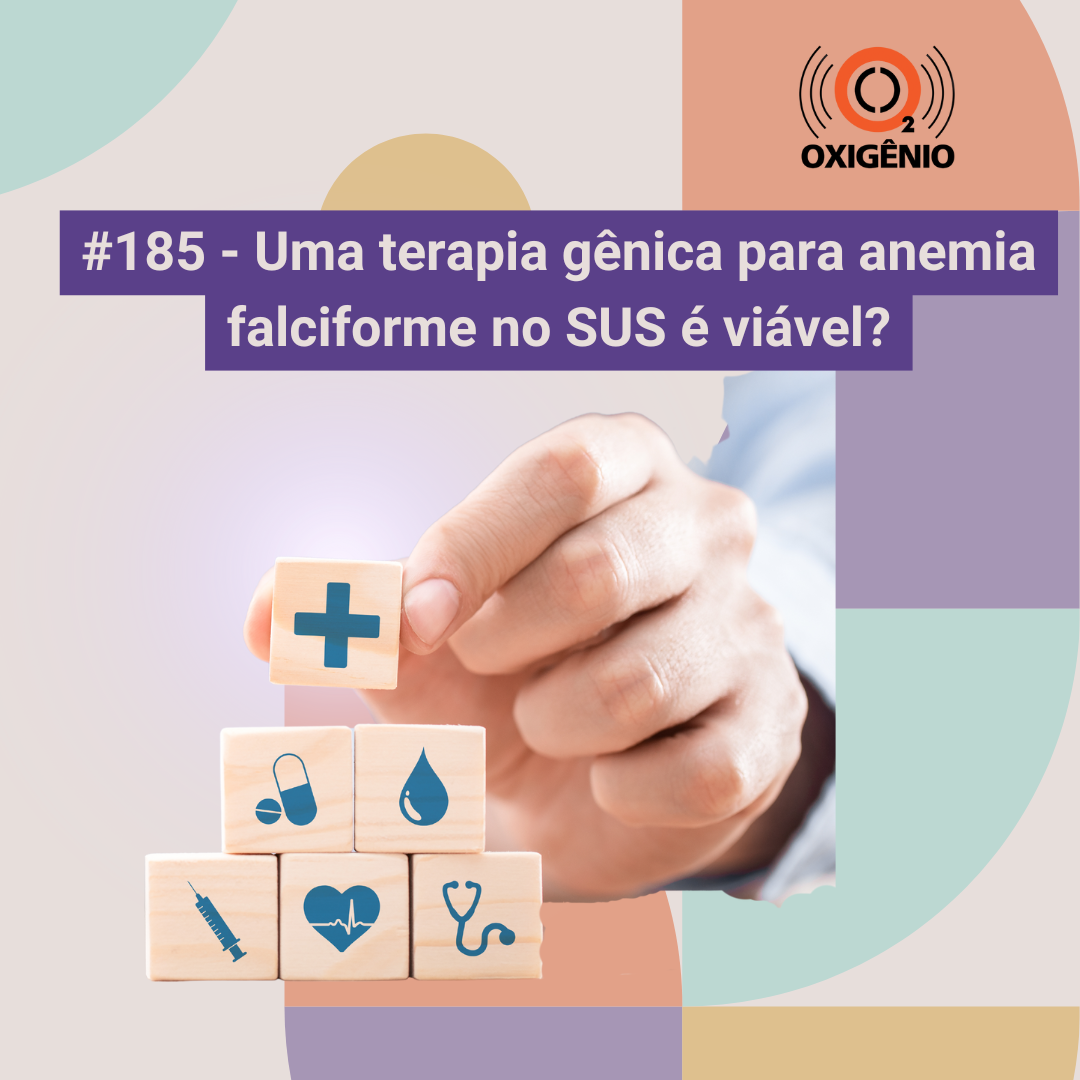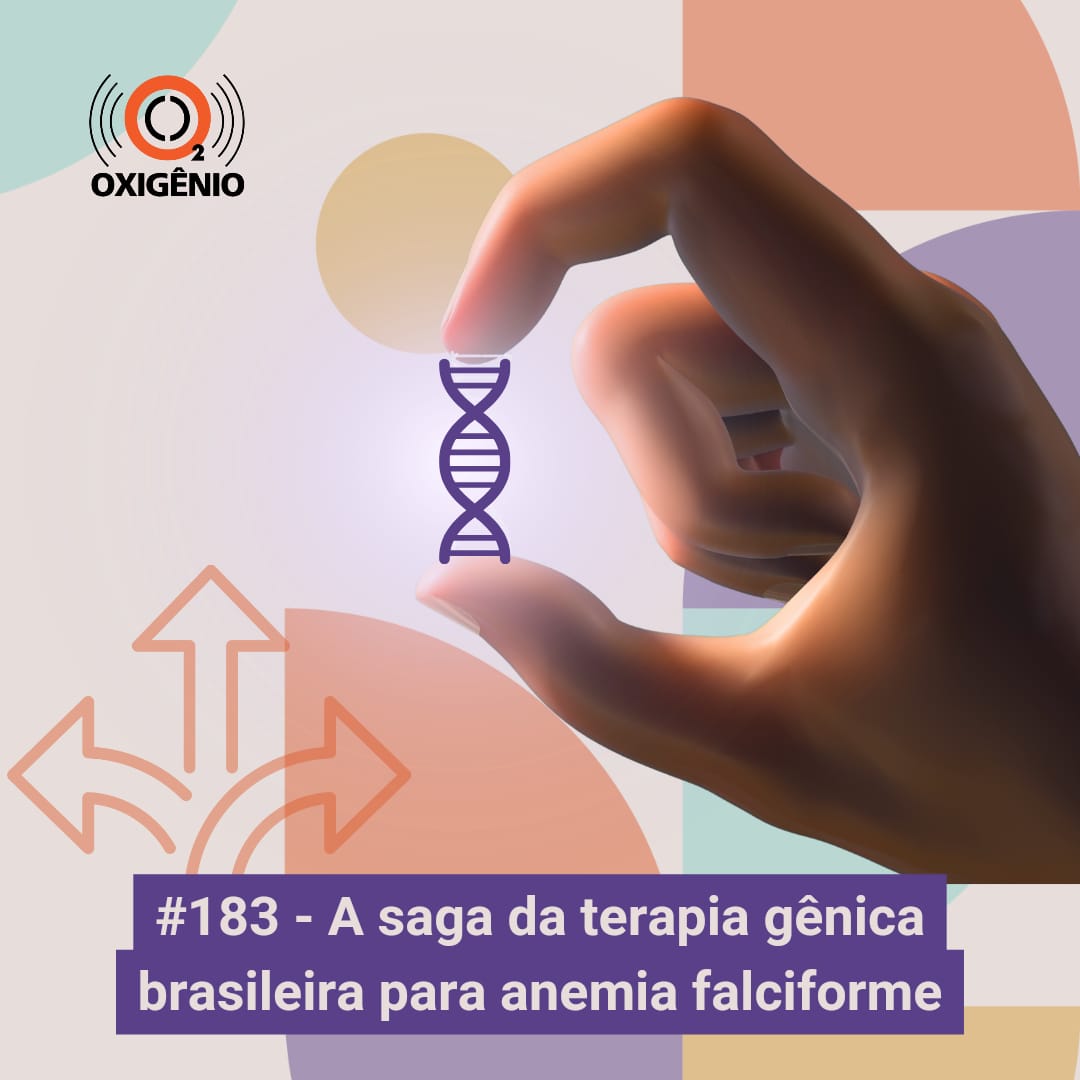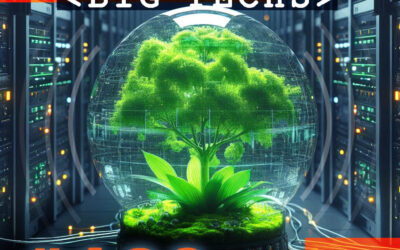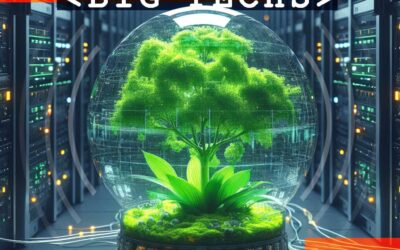Cada dia mais usuários adentram as redes sociais das Big Techs, como Facebook, Instagram, Threads, e assim por diante. Em 2024, mais de 5 bilhões de pessoas estavam usando as redes sociais, e esses usuários precisam de espaço de armazenamento para guardar seus arquivos, novos data centers precisarão ser construídos para atender às crescentes demandas. Mas qual é o impacto ambiental causado por essas estruturas de armazenamento de dados?
Esta inquietação levou a Juliana Vicentini e o Rogério Bordini, a produzirem esta série de podcasts, em três episódios, para tratar do tema Impactos socioambientais das Big Techs, como parte do trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Jornalismo Científico, um programa do Labjor em parceria com o Departamento de Política Científica e Tecnológica, do Instituto de Geociências, da Unicamp.
Os três episódios que compõem a série são: 1) Uma luz que nunca se apaga, (2) Por dentro da nuvem e (3) Pistache, cookies e muita soberania.
Neste segundo episódio, os jornalistas científicos ouviram a Daniela Zanetti, professora de Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo e também o Plinio Ruschi, engenheiro ambiental formado pela UNESP que atua como gerente de projetos climáticos na BRCarbon e o Alexandre Ferreira, especialista em computação verde e pesquisador do Recod.ai, Laboratório de Inteligência Artificial da Unicamp, que já conhecemos no primeiro episódio.
Acompanhe a série completa!
Roteiro:
Rogério: Gente, olha só esse sorvete maravilhoso, Juliana! Vou pegar um pra postar no meu Insta!
Juliana: Tá bonito mesmo. Também vou querer. (pausa) Moço, me vê dois de pistache?
(pequena pausa)
Rogério: Junta aqui pra tirar uma selfie!
(entra efeito sonoro de click de câmera seguido de som de notificação de erro)
Rogério: Ixi, meu celular tá falando que tô sem espaço de armazenamento pra subir essa foto.
Juliana: Afff esses serviços de nuvem limitados. Os caras têm milhares de data centers no mundo e mesmo assim nos cobram um rim pra subir uma mísera fotinho.
Rogério: Pois é, né. Até ouvi falar que tem um site chamado Data Center Map que monitora a distribuição desses centros de dados pelo mundo. Numa escala global, já são quase 8000. Já pensou?
Juliana: No Brasil temos 150 deles, sendo que 55 estão aqui pertinho da gente em São Paulo, e a tendência é que apareçam ainda mais. Segundo um relatório do Santander que eu li, essa vinda de data centers das Big Techs no território nacional está relacionada ao baixo custo para instalação aqui, boa infraestrutura, menor preço da energia quando comparado ao que é cobrado em outros países, e matrizes energéticas de hidrelétrica, eólica e solar, que, modéstia a parte, temos bastante por aqui.
Rogério: Isso quer dizer então que em breve a gente ter espaço de sobra pra arquivar nossas fotos, certo?
Juliana: Não é bem assim. Duvido muito que as empresas que estão instalando esses data centers no Brasil estão pensando no benefício dos usuários. É claro que a vinda dessas estruturas poderá gerar empregos à população local, mas certamente as empresas continuarão a expandir seus modelos de negócio enquanto usam nossos recursos naturais. E isso me preocupa um pouco.
Rogério: Mas como o uso de recursos naturais acontece? Será que esses centros de dados só causam danos mesmo?
Juliana: Não sei, Roger. Melhor pedir ajuda aos nossos universitários.
Juliana: Meu nome é Juliana Vicentini e no episódio de hoje, eu e o Rogério Bordini vamos tentar desvendar o que está por detrás dos centros de dados que estão pipocando cada vez mais no Brasil e no mundo, e quais são os impactos socioambientais que eles geram. Este é o segundo episódio de uma série sobre data centers e o impacto socioambiental que eles causam. Se quiser saber mais, ouça o primeiro episódio e acompanhe os próximos.
Rogério: Bora lá então, mas eu antes posso terminar meu sorvete?
Juliana: Pode, vai. O meu já até derreteu com esse calorão.
Rogério: Episódio 2 – Por Dentro da Nuvem
Juliana: No episódio anterior, o pesquisador Alexandre Ferreira, especialista em computação verde e pesquisador do Recod.ai, Laboratório de Inteligência Artificial da Unicamp, nos ajudou a entender o que são data centers.
Alexandre Ferreira: Eu fiz meu doutorado na Politécnica de Milano, que fica em Milão, na Itália. O foco dele, a linha de pesquisa principal era exatamente um projeto que tinha como objetivo desenvolver várias técnicas usando a inteligência artificial também, mas não apenas, nas diversas áreas, e diversos níveis de um data center para redução do consumo energético.
Juliana: São instalações físicas que armazenam, processam e gerenciam grandes volumes de dados por meio de máquinas, chamadas de servidores. Eles são importantes para o funcionamento diário de serviços como internet, bancos e telecomunicações. Por meio de servidores, equipamentos de rede e infraestrutura de segurança, eles garantem a continuidade das operações e a integridade das informações.
Rogério: Você já assistiu Star Wars ou Jornada nas Estrelas? Esses centros me lembram muito as espaçonaves destes filmes de ficção científica, repletas de grandes salas com mega computadores com luzes piscando pra tudo quando é lado.
Juliana: Grosso modo, a internet, essa como conhecemos hoje, não funcionaria sem esses grandes centros. Todas as conversas, fotos, vídeos e conteúdos que você tem em seu Whatsapp, Instagram, Facebook, etc., ficam armazenados nesses centros e podem ser acessados por meio de um pedido de dados que seu dispositivo faz ao data center. O pedido é roteado por uma rede backbone, espécie de rede de computadores que conecta diferentes redes menores, onde servidores recuperam as informações e as enviam de volta ao dispositivo.
Rogério: E o curioso é que essas estruturas tecnológicas serviram como base para o surgimento da própria internet na década de 60, né? Começaram a aparecer na década de 1940, junto com os primeiros computadores, como o ENIAC, desenvolvido para fins militares.
Daniela Zanetti: Então, a gente tem, por exemplo, os computadores, eles têm inicialmente um acesso mais doméstico e mais também pessoal, individual, somente com a chegada da internet, esses computadores começam a ser conectados, e a gente começa, então, o que a gente chama de cibercultura. Uma cultura cibernética aí, mais vinculada a essa possibilidade de conexões.
Rogério: Essa quem fala é a Daniela Zanetti, Professora de Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo.
Daniela Zanetti: Essa coisa dos dados parece uma coisa invisível, né, por isso que às vezes, tem um perigo aí, a gente não conseguir ter a real dimensão disso, né? A diferença é que ela precisa de uma interface de dados para a gente aparecer, para aparecerem, a gente lida com eles, precisa de uma interface, de um tradutor, para as pessoas poderem enxergar, né? Então, se a gente pega no surgimento dessas grandes corporações, elas surgem num outro contexto que é até mais libertário, né, década de 1970, 80, um meio favorável nas universidades americanas norte-americanas, cientistas, dinheiro, estudantes, os próprios hackers também, para criarem esse, se elas desenvolverem os computadores, e uma forma mais, eu diria assim, eu não sei se democrática, mas assim, uma forma mais aberta de acesso ao conhecimento, né?
Rogério: E no começo, os data centers eram instalações simples para abrigar grandes computadores. Com a evolução da tecnologia e o boom da internet nos anos 90, a demanda por hospedagem de sites cresceu, levando à expansão desses centros. Hoje, eles suportam soluções de computação em nuvem, permitindo acesso a servidores remotos de milhares de dados.
Juliana: Mas embora todo esse poder tecnológico possa parecer fascinante, ele oculta alguns desafios socioambientais. O armazenamento de tamanha quantidade de dados, acaba contribuindo para a produção de mais lixo eletrônico.
Rogério: Pois é, Ju. E isso nos preocupa, pois a geração de lixo eletrônico vem crescendo cinco vezes mais rápido do que a nossa capacidade de reciclar. Segundo dados do 4º Global E-waste Monitor da ONU em 2022, o mundo produziu um recorde de 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Isso representa um aumento impressionante de 82% desde 2010. E as previsões não são muito animadoras, viu: até 2030, esse número pode chegar a 82 milhões de toneladas, já pensou? A maioria do lixo eletrônico é produzida pelos países do norte global, os quais transferem seus resíduos para o sul global, para países como Índia e Nigéria.
Juliana: Lembrando que o lixo eletrônico é qualquer dispositivo que você descarta e que tem um plugue ou bateria. E o mais alarmante: apenas 1% da demanda por elementos de terras raras é atendida pela reciclagem. Além disso, o lixo eletrônico é uma ameaça à saúde e ao meio ambiente, pois contém substâncias tóxicas, como mercúrio, que pode prejudicar nosso cérebro e contaminar a água e o solo. Algumas empresas, como a Apple, têm adotado medidas para mitigar resíduos eletrônicos, mas ainda são iniciativas bem incipientes.
Alexandre Ferreira: Algumas empresas fazem isso de forma mais pontual. Vou dar um exemplo no caso da Apple tem aquele robô Daisy. Uma das propagandas dela é um dos MacBooks, você tem 50% do material reciclado. Separar esse material de um equipamento que você descartou é algo que caro. Então eles têm uma máquina, um robô que auxilia nesse processo da separação dos componentes para que eu possa promover o reuso desses componentes em máquinas novas. Então, a gente tem isso, a gente tem, na forma geral, como a redução do carbono, é algo que as empresas, uma coisa que elas querem fazer para publicidade. Então é muito importante que elas tenham, elas são obrigadas a ter iniciativas do ponto de vista da sociedade, porque a sociedade cobra isso delas. Olha você tem que ter algum tipo de projeto para reduzir o seu impacto ambiental. Os governos têm cobrado bastante, a gente pode discutir se isso é suficiente ou não. Aí já é uma outra discussão. Mas é importante que, no final das contas, todo mundo tem que sair ganhando. Então para elas também tem que ser economicamente viável e ter algum benefício. tanto do ponto de vista do software, do ponto de vista do midwar ou do hardware, em todas elas, normalmente tem investimentos iniciais, mas se esse investimento foi feito uma análise correta em cima deles, a maior parte deles se pagam, então a parte econômica se torna viável também.
Rogério: Neste mesmo sentido, uma matéria da instituição de pesquisa holandesa Transnational Institute de 2023, aponta que esse modelo de negócio baseado no capitalismo digital deixou de ser uma nuvem, e se tornou uma mina. Veja só que poético! E prova disso se baseia em como as Bigh Techs, que detêm muitos destes data centers, estão envolvidas na extração ilegal de minerais em terras indígenas brasileiras. O Repórter Brasil revelou que a exploração é feita por refinadoras europeias, como a italiana Chimet e pela brasileira Marsam. A extração ilegal de ouro, estanho, tungstênio e tântalo causam desmatamento, contaminação dos rios, e coloca em risco a saúde dos povos indígenas, devido ao uso de mercúrio. Organizações como a Responsible Minerals Initiative, que deveria auditar o setor, são criticadas por não considerarem o Brasil uma ‘área de risco’ porque não há mecanismos de rastreabilidade de minérios confiáveis no nosso país. Segundo a professora Daniela:
Daniela Zanetti: E uma outra dimensão também muito severa, que aí é a questão da própria origem dos minerais, que são usados para fabricar as coisas. Estanho, cobre, cobalto, o próprio ouro. Há uma verdadeira guerra acontecendo nesses territórios, que têm essas minas, que têm essas minas, esses minerais, e assim é uma disputa política econômica muito forte e causando também impactos ambientais muito grandes, causando impactos muito grandes. Em geral, é uma manutenção de exploração, não só do meio ambiente, como da própria comunidade locais. As comunidades locais vão sofrer com isso também, elas não têm retorno positivo. Então, sabemos, estamos usando os smartphones, temos que ter consciência, pelo menos, de que ali por trás daquelas peças que compõem aquele produto, tem muito desgaste do meio ambiente. Assim como deve haver uma regulação para as empresas, as Big Techs em relação a como elas funcionam, também deveria haver, deve haver regulamentação para a forma como elas interferem no meio ambiente. Como é que elas vão compensar isso É plantando árvore? Então, quantas árvores para compensar isso?
Juliana: A intensa demanda por água pelas Big Techs, por exemplo, gera estresse hídrico onde se instalam. O NSA Data Center localizado em Utah, nos Estados Unidos, usava cerca de 6.5 milhões de litros de água diariamente. Isso privou comunidades locais e comprometeu habitats naturais. Quando as grandes corporações escolhem países como Finlândia, Irlanda ou Suécia para se instalarem, elas projetam esses espaços como remotos, como uma maneira de minimizar os seus impactos.
Rogério: Existem até algumas empresas que tiveram a ideia mirabolante de instalar esses centros debaixo da água, como forma de facilitar o resfriamento das máquinas, mas não parece ser uma ideia tão prática assim. Por exemplo, como fariam a manutenção nas máquinas? Com mergulhadores e submarinos? Sem contar que a instalação e presença dessas estruturas subaquáticas poderiam gerar um impacto na vida marinha, com poluição sonora e eletrônica.
Alexandre Ferreira: Por exemplo, a Microsoft, está testando você construir data centers submersos, pensar no data center no fundo do mar. Mas aí entra a questão da viabilidade. E como é que eu faço para chegar até lá? Quanto vai custar construir um data center nesse, no lugar como esse? Isso, e manutenção, como é que faz? Então, existem iniciativas para pensar nesse sentido, e também eu tenho que levar em consideração todos esses aspectos. Afinal de contas, eu tenho que ter uma solução que seja inovadora, mas que seja economicamente viável também.
Juliana: A emissão de carbono é outro problema ambiental que ronda as Big Techs. No caso da Google, segundo o último relatório ambiental da organização, em 2023, 14,3 milhões de toneladas de gás carbônico foram lançadas na atmosfera. Isso representa um aumento de 48% de suas emissões em cinco anos, apenas. Mas por que será que as Big Techs emitem tanto carbono assim? Quem conta pra gente é o Plinio Ruschi, engenheiro ambiental formado pela UNESP que atua como gerente de projetos climáticos na BRCarbon.
Plínio Ruschi: Ao consumir essa grande quantidade de energia elétrica, essas empresas estão produzindo de alguma forma os gases do efeito estufa, como exemplo o carbono. Obviamente, os funcionários dessas empresas também têm a sua parcela, as pessoas quando estão trabalhando, os escritórios que também têm em climas muito quentes, tem a refrigeração, em climas muito frios, tem o aquecimento, refeitórios e outras estruturas que também consomem energia e geram aí gases do efeito estufa. Essas emissões impactam a sociedade, do mesmo modo que qualquer emissão de gases de efeito estufa impacta. A gente já sabe que o aumento da concentração desses gases na atmosfera tem uma relação com as mudanças climáticas, como a intensificação dos eventos atmosféricos, as chuvas mais intensas, as secas, os ventos, ciclones e tudo isso. Bom, a mensuração dos gases do efeito estufa pode ser feita pelo inventário de emissões de gases do efeito estufa. É um trabalho que é realizado por um consultor externo e independente e permite o mapeamento das fontes de emissão desses gases, seja em uma determinada atividade ou em uma organização como um todo. Isso, inclusive, pode ser feito desde o nível de processos até o nível nacional, o nível de país.
Rogério: Algumas Big Techs se propuseram a zerar a emissão de carbono até 2030, ano que coincide com a meta para que o mundo atinja os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pela Organização das Nações Unidas, os famosos ODS. Será que isso é possível?
Plínio Ruschi: Basicamente, as estratégias para reduzir ou para compensar a emissão de gases de efeito estufa são duas. A gente tem aí o inset e o offset, são duas estratégias diferentes que podem ser complementares. O inset é tudo o que a empresa faz internamente nos seus processos para tornar eles mais eficientes e menos impactantes. O uso de equipamentos com uma categoria energética mais eficiente, por exemplo, a substituição de equipamentos mais antigos por equipamentos que façam o mesmo ou até mais com o menor consumo de energia. Também pode colocar o ambiente dos escritórios, uma construção que tenha uma eficiência térmica melhor, ela vai exigir menos uso de ar-condicionado ou menos uso de aquecimento. O offset é o que a empresa pode fazer para compensar as emissões que ela não conseguir reduzir, aí ela faz os créditos de carbono. Então, para cada uma tonelada de gases de efeito estufa, o tal do CO2 equivalente, que ela não consegue evitar no seu processo, ela pode aquirir e aposentar um VCU que é uma unidade transacionável equivalente. Então, ela compensa o que ela não consegue fazer através da compra de créditos.
Juliana: Além da redução de emissão de carbono, as Big Techs poderiam investir em fontes de energia renováveis, melhoria das tecnologias de arrefecimento e a adoção de práticas de economia circular. Dessa maneira, elas poderiam ajudar a atenuar estes impactos e a contribuir para a sustentabilidade.
Alexandre Ferreira: A questão da água, ao invés de eu ficar captando a água o tempo todo, eu usar a mesma água. Eu fecho o meu sistema. Então, eu vou ter uma quantidade de água, mas ela vai estar recirculando. Só que eu tenho que ter um mecanismo de abaixar a temperatura dessa água, dentro do meu data center. Ou usar não água, usar outras coisas. Existem alguns centros de dados, aqui no Brasil até que estão usando outras coisas, além da água. O glicol, por exemplo, que é uma outra substância. E aí eu recirculo isso. Então, isso tem uma facilidade para eu poder abaixar a temperatura, mais fácil de controlar. Então, eu uso a mesma substância.
Não amo muito mais a proposta, mas eu já vi propostas, não sentido nada concreto ainda. Em vez de usar água doce, potável, eu uso a água que seria descartada, por exemplo. Então, o importante é o líquido estar em baixa de temperatura e resfriar o meu equipamento. Não importa realmente qual é o líquido. Eu estou controlando isso através de tubulações e tudo mais
Rogério: Além disso, pesquisadores têm testado uma maneira mais sustentável para treinamento das IAs, chamado de Small Language Models, ou Pequenos Modelos de Linguagem, em português. Do ponto de vista de hardware, esses modelos são mais baratos de serem executados, são menores e exigem menos poder computacional e memória, sendo adequados para implementações locais e em dispositivos, o que também consequentemente, favorece a segurança. E o mais bacana, é que esses modelos podem ser encontrados aqui pertinho da gente, Ju.
Alexandre Ferreira: Com certeza. Inclusive é uma coisa que a gente faz no Recod. Além de ser um requisito de você ser mais sustentável, você usar a qualidade menor de recursos, até pra você conseguir desenvolver técnicas que conseguem ser mais abrangentes, porque você tem… Apesar de a gente viver no mundo Big Data, dados não estruturados, é uma bagunça, então ter dados estruturados custa muito claro. Então, você conseguir desenvolver soluções que usam uma quantidade menor de dados, e isso você vai reduzir a quantidade de processamento, você vai reduzir o tempo de treinamento, e você consegue resultados parecidos, às vezes não exatamente iguais, mas parecidos. É uma coisa que a gente, inclusive, a gente faz no laboratório; Mas tem também uma coisa que é… Não adianta ser qualquer dado, eu tenho que ter dado de qualidade. Então, apesar de a gente viver nesse mundo Big Data, muito desse dado ainda, é difícil de lidar. Então, eu tenho que fazer uma grande quantidade de processamento e tudo mais. Então, se eu conseguir reduzir tudo isso, eu estou desenvolvendo soluções que são mais leves e fazem o trabalho mesmo assim. Mas eu consigo fazer a mesma coisa, com a quantidade menor de dados? Existem soluções que mostram que sim, ou muito perto disso. Então, isso se torna até economicamente mais viável pra você fazer eventualmente um deployment. O problema é que você tem que realmente chegar nessa solução tão robusta quanto. Isso é uma linha de pesquisa que a gente explora no laboratório.
Juliana: Pois é, Roger. Vimos que tem várias ações sustentáveis que as Big Techs podem adotar para mitigar os impactos ambientais na construção e funcionamento desses centros de dados, mas isso contribui parcialmente para a solução desse desafio. Outro ponto importante está no modelo de negócios que as Big Techs operam, que as fazem crescer cada vez mais, conhecido como capitalismo de vigilância.
Rogerio: Esse termo foi proposto por Shoshana Zuboff, psicóloga social e filósofa estadunidense, autora do livro “A Era do Capitalismo de Vigilância”. Na obra, Zuboff aborda que esta lógica transforma a experiência humana em matéria-prima gratuita pra práticas comerciais, utilizada para prever comportamentos e maximizar lucros.
Juliana: Mas isso vai ficar para o próximo episódio.
Rogério: Dá um spoilerzinho aí!
Juliana: Nem pensar. Depois me manda a foto do sorvete?
Rogério: Chá comigo!
Juliana: Esta série foi criada, roteirizada e apresentada por mim, Juliana Vicentini e pelo Rogério Bordini, e é parte do nosso trabalho de conclusão do curso de Especialização em Jornalismo Científico do Labjor na UNICAMP.
Rogério: A orientação do projeto foi do Rafael Evangelista e da Simone Pallone, que também revisou o roteiro. Utilizamos várias referências de reportagens e outros textos para preparar este podcast. No site do Oxigênio, temos os roteiros completos com link para essas referências. A edição do episódio foi feita por mim, Rogério Bordini. E, por hoje, ficamos por aqui.
Juliana: Tchau!
Rogério: Beijo.