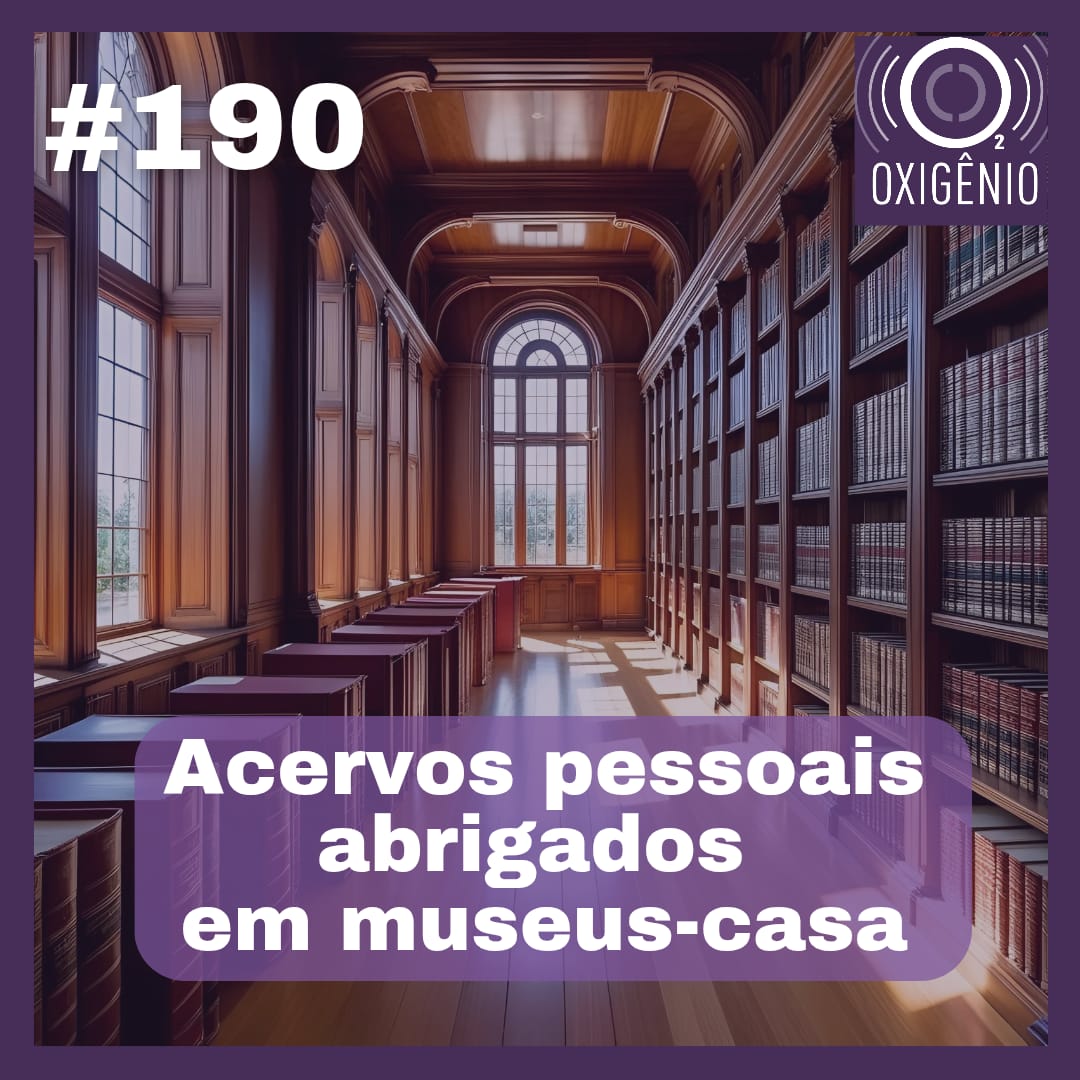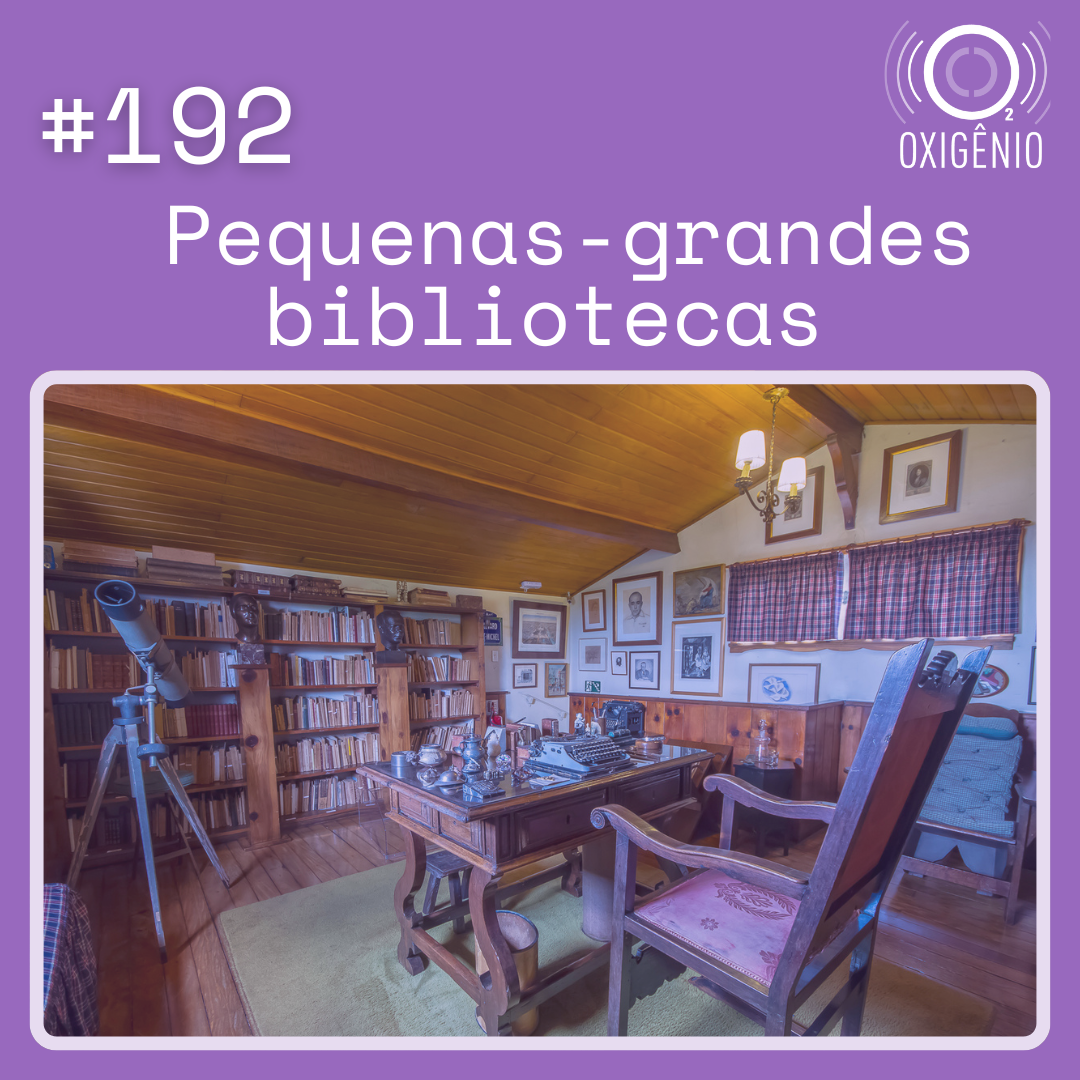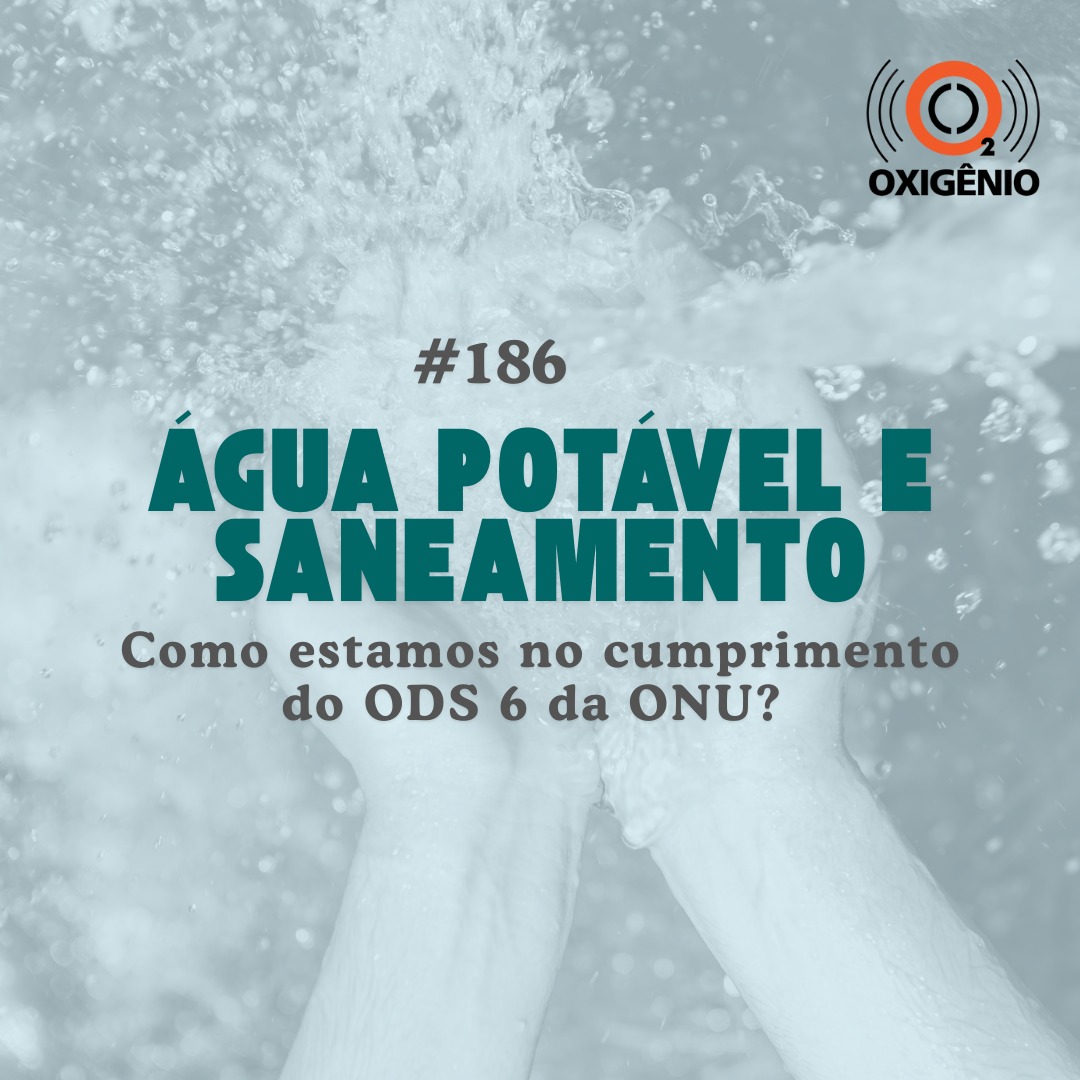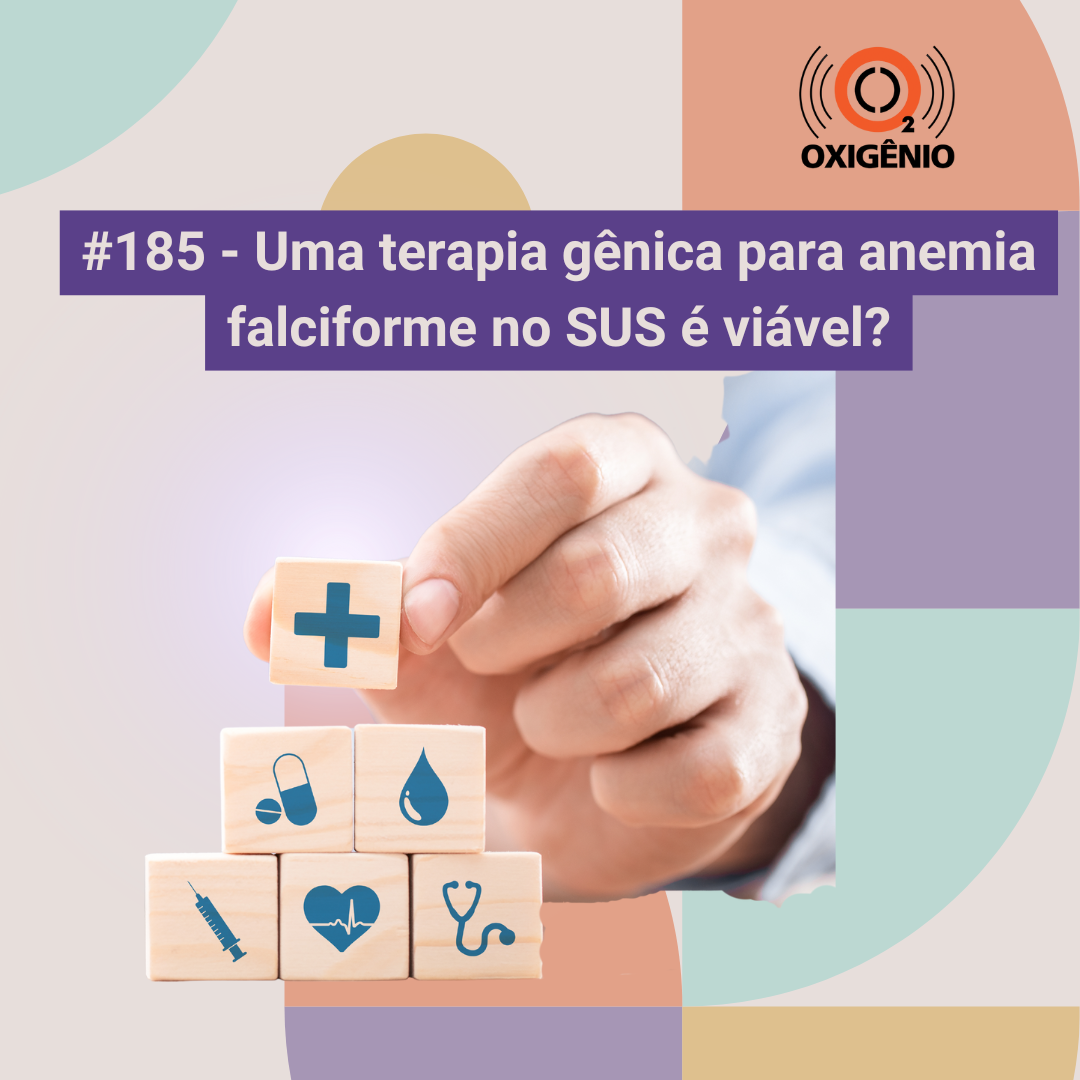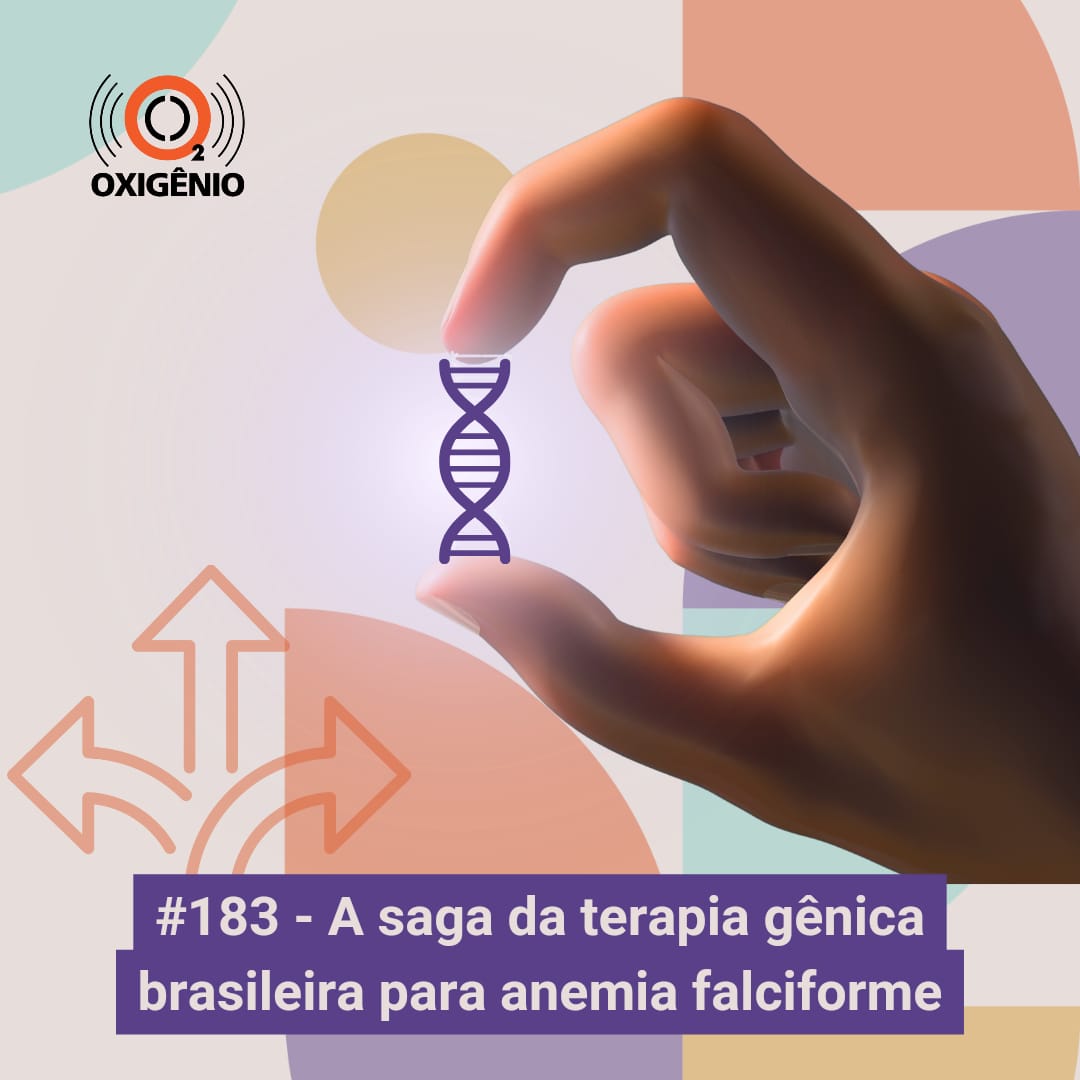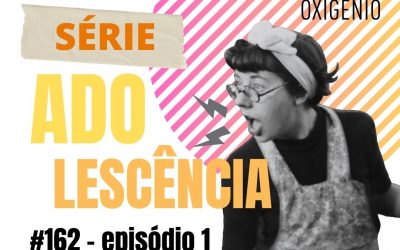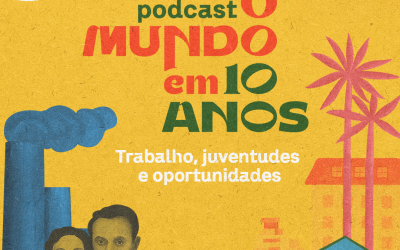Você já parou pra pensar que todos nós acumulamos um acervo pessoal durante a vida? Neste episódio vamos apresentar como funciona o arquivamento e a musealização de acervos pessoais de escritores e pessoas influentes na história literária e cultural do Brasil. Você vai descobrir as características e particularidades do trabalho de arquivamento e tratamento de acervos pessoais, em particular de pequenas-grandes bibliotecas, com livros que foram adquiridos e utilizados por importantes escritores brasileiros. Nós conversamos com gestores, arquivistas e pesquisadores que atuam diretamente em arquivos e acervos abrigados em museus.
Você vai escutar entrevistas com a Roberta Botelho, coordenadora técnica do Centro de Documentação Cultural “Alexandre Eulalio” (Cedae/Unicamp); o Marcelo Tápia, poeta, ensaísta e tradutor, que dirigiu por quinze anos a rede de museus-casa da cidade de São Paulo; a Aline Leal, pesquisadora em práticas arquivísticas, processos e procedimentos de escrita, com foco nas marginálias da biblioteca da escritora Hilda Hilst; o Max Hidalgo, professor associado na Universidade de Barcelona e estudioso do acervo bibliográfico do poeta Haroldo de Campos e o Pedro Zimerman, coordenador do museu do livro esquecido, formado em Psicologia pela USP.
Este episódio é parte da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso na Especialização em Jornalismo Científico do Labjor/Unicamp da aluna Lívia Mendes Pereira e teve orientação do professor doutor Rodrigo Bastos Cunha. As reportagens deste trabalho também foram publicadas no dossiê “Museus” da Revista ComCiência, que você pode ler na página comciencia.br.
Mayra: Você já parou pra pensar que todo mundo constrói um acervo pessoal durante a vida? Essas coisas que guardamos em casa: nas gavetas, em armários, em estantes… são objetos diversos e especiais que contam um pouco da nossa própria história de vida e de quem somos.
Lidia: “E quem sabe, então
O Rio será
Alguma cidade submersa
Os escafandristas virão
Explorar sua casa
Seu quarto, suas coisas
Sua alma, desvãos”
Lívia: Nessa música, “Futuros Amantes”, do cantor e compositor Chico Buarque, que você provavelmente já ouviu tocar por aí e que você ouviu a declamação de alguns versos, é apresentada uma imagem da cidade do Rio de Janeiro submersa pela água do mar. Milênios depois dessa suposta inundação, é imaginada uma cena em que os escafandristas, mergulhadores que investigam o fundo do mar, encontrariam alguns vestígios espalhados pela casa de um casal apaixonado. Esses vestígios seriam cartas, poemas e fotografias, tudo aquilo que a gente costuma guardar como lembranças. Na música, esse acervo pessoal que sobreviveu ao alagamento funciona como a chave para decifrar os vestígios de “uma estranha civilização”.
Mayra: E é exatamente isso que os acervos pessoais fazem na vida real. Quando sobrevivem ao tempo e às intempéries, eles revelam nossos traços de personalidade, nossa trajetória pessoal, acadêmica, profissional. Eles contam histórias dos lugares que foram percorridos, daquilo que gostamos e das mudanças no percurso histórico que vivemos. O acervo pessoal também pode refletir nossas escolhas, aquilo que escolhemos guardar ou descartar.
Lívia: Já que eles carregam tanta informação, esses acervos devem estar disponíveis para serem acessados. É esse o trabalho que os profissionais em arquivos, fundos e museus fazem com acervos pessoais importantes. Eles permitem acessar um material que contém memórias da história política, social e artística de nosso país.
Lidia: “Sábios em vão
Tentarão decifrar
O eco de antigas palavras
Fragmentos de cartas, poemas
Mentiras, retratos
Vestígios de estranha civilização”
Lívia: E sou a Lívia Mendes. Eu sou linguista e esse episódio foi resultado do meu Trabalho de Conclusão de Curso na Especialização em Divulgação Científica no Labjor da Unicamp.
Mayra: E sou a Mayra Trinca, que conheci a Lívia nesse mesmo curso de especialização.
Mayra: Neste episódio vamos apresentar como funciona o arquivamento e a musealização de acervos pessoais de escritores e pessoas influentes na história literária e cultural do Brasil.
Lívia: Neste primeiro episódio você vai descobrir as características e particularidades do trabalho de arquivamento e tratamento de acervos pessoais, em particular de pequenas-grandes bibliotecas, com livros que foram adquiridos e utilizados por importantes escritores brasileiros.
Mayra: No segundo episódio, ainda nesse tema, a gente vai te contar as histórias que estão por trás de três acervos pessoais abrigados em museus-casas na cidade de São Paulo. Os acervos bibliográficos de três escritores significativos para a nossa história literária: o Guilherme de Almeida, o Mário de Andrade e o Haroldo de Campos. Vem com a gente!
Roberta Botelho: Não separamos os conjuntos documentais, tratamos eles individualmente, com o que a gente chama de fundo e coleção. Fundo é tudo que veio organicamente de uma pessoa ou de uma instituição, que foi acumulada ao longo da vida da pessoa e da instituição. Então, nós temos aqui fundos pessoais, que são a maioria dos fundos, mas também temos fundos institucionais.
Lívia: Alguns fundos institucionais abrigados no CEDAE, o Centro de Documentação Cultural “Alexandre Eulalio”, que fica no Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, da Unicamp, são os fundos da Associação Brasileira de Linguística, a ABRALIN; do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, o GEL e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, a ANPOLL. Esses fundos são constituídos por uma grande documentação administrativa e financeira, produzida e acumulada por eles no decorrer das atividades, como eventos, publicações, cursos e encontros.
Roberta Botelho: E as coleções que chamamos de conjuntos são organizados de forma artificial, vamos dizer assim, né? Então eles não são orgânicos no desenvolvimento das próprias atividades da pessoa e da instituição, são como acumulados dessa forma, são acumulados artificialmente, de acordo com o interesse de algum colecionador ou de um projeto de pesquisa, por exemplo.
Mayra: Essa que você acabou de ouvir é a Roberta Botelho, coordenadora técnica do CEDAE. A Roberta explicou pra gente, que os fundos ou acervos pessoais de bibliotecas podem chegar nos centros de referências bibliográficos ou no museu de diferentes formas.
Lívia: Eles podem chegar em parte ou em sua totalidade. Depende muito de como foi o processo de aquisição desse acervo, se foi a doação de um familiar ou da própria pessoa ainda em vida.
Roberta Botelho: Nós tratamos essa biblioteca de duas formas. De forma arquivística. então ela vai estar espelhada, nesse quadro de classificação, nesse arranjo que a gente vai dar para esse fundo, mostrando a organicidade dos documentos, de acordo com as atividades que aquela pessoa desenvolveu ao longo da vida dela, isso inclui a biblioteca.
Mayra: A outra forma de tratamento de acervos bibliográficos, é a forma biblioteconômica, tratando o acervo ou fundo bibliográfico como uma biblioteca. Como a Roberta nos contou, os livros são registrados no sistema de bibliotecas da Unicamp como “coleções especiais”.
Roberta Botelho: Muitas dessas bibliotecas guardam livros raros, coleções especiais, que já se esgotaram, livros, que não se encontram tão facilmente. Então, a gente acabou vendo uma necessidade de mostrar para um outro público, esse que vem atrás do livro e não do acervo, a existência desse rico acervo, dessa rica biblioteca que a gente tem aqui.
Lívia: Esses livros que fazem parte de acervos pessoais são considerados um documento, por isso eles não podem ser emprestados para circulação e são tratados como “especiais”.
Mayra: Nesse caso, o pesquisador ou o interessado em algum livro deve agendar uma visita, para ler e manusear o exemplar no espaço museal ou arquivístico, tomando os cuidados indicados pelo bibliotecário ou arquivista responsável. Esses livros recebem um número de série ou tombamento, como em qualquer outro sistema de bibliotecas, mas também são considerados um documento histórico, porque eles trazem informações especiais, como anotações manuscritas, dedicatórias e as chamadas marginalias, que são as marcações que estão nas margens do texto.
Lívia: Muitas vezes essas anotações trazem informações sobre os impactos da leitura do autor sobre aquele livro ou os seus comentários enquanto leitor de outros autores.
Mayra: Algumas dessas bibliotecas, que fazem parte de acervos pessoais, ficam abrigadas em museus-casas.
Lívia: A criação de um museu-casa vem da ideia de musealizar a vida de uma pessoa, criando uma união entre o prédio, a coleção e a pessoa que viveu ali.
Mayra: A musealização de algo é o ato de tirar um objeto do seu meio natural ou cultural de origem e torná-lo um objeto que chamamos “museológico”. Podemos chamar essas peças de “objetos-testemunhos”, pois carregam memórias pessoais ou coletivas.
Lívia: Musealizar objetos, como os livros de uma biblioteca pessoal, é criar uma rede de relações, como um testemunho de uma determinada cultura e sociedade. Estes livros vão funcionar como um suporte de informação, que ao fazerem parte de um museu, serão “salvaguardados”.
Mayra: “Salvaguardar” um objeto é evitar que ele sofra danos ou prejuízos e possa ser pesquisado, para depois ser comunicado ao público. Esses objetos se tornam geradores de informação, para além da sua preservação e manutenção e revelam uma potência em contar diferentes histórias.
Lívia: Nós perguntamos pro Marcelo Tápia, que é ensaísta, tradutor e pós-doutor em Letras pela USP e dirigiu por mais de quinze anos a rede de museus-casas literários na cidade de São Paulo, por que é importante guardar bibliotecas em museus. Ele explicou que esses espaços dão maior possibilidade de acesso ao público, diferente daquelas bibliotecas que estão em instituições acadêmicas, como as universidades.
Marcelo Tápia: Não é todo mundo que pode tirar um livro ou consultar um livro, não tem facilidade para consultar o livro numa USP ou em outras instituições. Além de que um conjunto que é reunido, de uma determinada pessoa, cuja obra é significativa, tem uma especificidade das razões daquela escolha. Então, como conjunto é uma informação relevante, não é só uma biblioteca, colocada em qualquer lugar, né? É um conjunto que tá lá e vai se criando um conjunto cada vez maior, isso tem a ver com a memória de quem a criou, de quem formou aquele conjunto e com a época em que viveu, seu legado e tudo mais.
[música de transição]
Lívia: A gente falou também com uma pesquisadora do Centro de Letras e Artes da Unirio, a Aline Leal, e ela contou sobre a pesquisa que desenvolveu em umas dessas bibliotecas, que estão guardadas em um museu. A Aline estudou as marginalias dos livros da biblioteca que faz parte do acervo pessoal da escritora e poeta Hilda Hilst.
Mayra: Lembrando que as marginalias trazem as impressões, os comentários ou até mesmo as divergências que o leitor pode ter com o texto. Muitos estudiosos analisam essas marginálias para entender melhor o pensamento de um autor ou a recepção de um texto ao longo do tempo.
Aline Leal: E aí, enfim, eu fui me interessando por pensar essa relação de uma biblioteca de uma escritora. Como ela lia? Como é que ela aproveitava a leitura para a escrita? Qual era o tipo de reverberação dessa leitura no seu texto final, na sua obra? Eu fiquei tentando encontrar relações.
Mayra: A biblioteca da Hilda Hilst fica abrigada na Casa do Sol, na cidade de Campinas, onde a autora viveu de 1966 até seu falecimento, em 2004. Muitos pesquisadores consultam esse acervo, que conta com aproximadamente três mil e quinhentos livros, procurando pistas sobre o processo criativo da Hilda.
Aline Leal: E a biblioteca, estão ali não apenas os livros, como matéria física, como objeto de pesquisa, mas também há algo fantasmático ali, que seria a própria experiência de leitura da Hilda Hilst, assim como ela leu, que tipo de comportamento ela tinha em relação a essa atividade, né? E isso é muito verificável também nesse espaço do livro, que é a marginália.
Lívia: Esse tipo de estudo com anotações e marginalias amplia as pesquisas em Literatura, para além daquilo que é publicado nos livros e revela os processos de escrita e as condições de produção.
Mayra: Ou seja, esse tipo de estudo revela uma outra face literária, que fica preservada nos manuscritos, e que nos contam um pouco da História da Literatura, para além daquela que já foi consagrada nos livros teóricos.
Aline Leal: Então, hoje em dia, cada vez mais parece se dar um valor na pesquisa desse tipo de material, porque inclusive amplia os estudos literários, assim vamos dizer, talvez um livro que tenha sido já muito estudado, ele pode ter uma nova leitura a partir da relação que se faz desse livro com os seus manuscritos ou com um caderno do escritor. E os alunos têm adorado trabalhar no arquivo, é muito interessante ver como que instiga mesmo.
Mayra: A Aline lembrou, que no livro O Sabor do Arquivo, a autora Arlette Farge pensa o arquivo como um acúmulo de tempo do passado, mas que está voltado para o futuro, esperando que este passado seja aproveitado. Aquele “eco de palavras antigas” que reverbera no presente e vai fazer algum sentido no futuro.
Aline Leal: E também a experiência do pesquisador em arquivo, de tá ali num outro tempo, que não é o tempo acelerado do mundo do trabalho, né? De ter que entrar, às vezes botar uma luva, se debruçar sobre esses materiais que tem um cheiro, vamos dizer assim, do passado, que muitas vezes até nos deixam alérgicos e que não é tão às vezes manchados, que tem às vezes, uma mínima rasura assim, então, faz diferença assim, claro que é a digitalização também ela nos ajuda muito, né? Porque você pode voltar aos materiais, às vezes é isso, você também não consegue estar presente assim sempre, mas de fato, ir a esses espaços é muito importante.
Lívia: O Max Hidalgo, professor associado da Universidade de Barcelona e que estuda o acervo do escritor Haroldo de Campos aqui no Brasil, falou um pouco pra gente sobre essas ausências, as possíveis manchas e rasuras que podem formar lacunas nos acervos.
Max Hidalgo: Às vezes a gente, ingenuamente, quando chega no arquivo, a gente acha que no arquivo vai achar tudo, já que tem uma obra, a gente vai pro arquivo e o arquivo seria a verdade da obra e no arquivo está tudo, a totalidade que dá sentido à obra publicada. E nunca é assim. Porque, justamente, se a gente reconstruir a história dos acervos, o que se descobre é a contingência. É completamente contingente que uns livros tenham sobrado, outros livros tenham sido conservados, outros não.
Lívia: Como o Max explicou, todo o arquivo está sempre perfurado, ele é fragmentar e deve ser preservado, pra que a gente faça algo com ele.
Max Hidalgo: Então, é justamente isso, é a possibilidade de voltar sobre o passado, nesse caso voltar sobre o volume textual que a gente recebeu, pra fazer alguma coisa com ele.
Mayra: Essa questão da ausência do arquivo fez o Max lembrar do filósofo francês Jacques Derrida e o que ele falou sobre a herança.
Max Hidalgo: A herança, fala Derrida, não é uma coisa estável, dada, mas herança tem que ser construída. O herdeiro tem que herdar. E herdar quer dizer sempre trair, escolher. Uma biblioteca já é isso, mas uma leitura dentro de uma biblioteca é isso também.
Lívia: Os arquivos e os acervos são, nessa perspectiva, uma sobrevivência dos restos, que abrem uma possibilidade de rompimento do que seria uma linha de sentido principal, abrindo novas possíveis interpretações.
Mayra: Essa passagem do tempo e as lacunas que constituem os acervos foram a inspiração do nome dado ao Museu do Livro Esquecido. O museu foi inaugurado ano passado na cidade de São Paulo e está abrigado na centenária Casa Ranzini, um casarão histórico no centro da cidade, que foi projetado e habitado pelo arquiteto Felisberto Ranzini, na década de 1920. O Pedro Zimerman, coordenador do museu, contou pra gente sobre essa inspiração.
Pedro Zimerman: Muitas vezes perguntam pra gente porque que é Museu do Livro Esquecido e um dos propósitos que foi justamente esse, lembrar que livro é um objeto físico, não tá no digital, não tá na nuvem. Então, a gente pode literalmente esquecer no ônibus, no metrô ou mesmo em casa. Então, esse é um dos sentidos do nome. Outro sentido do nome é também resgatar autores e autoras que não são tão lembrados assim, isso fica mais representado no logo, que é um pescador resgatando um livro do fundo do lago.
Lívia: O Museu do Livro Esquecido mantém uma grande gaiola de madeira na entrada do prédio e o Pedro contou que nas visitas guiadas eles despertam nos visitantes a curiosidade sobre esse símbolo, a partir da metáfora da captura de uma coleção de livros.
Pedro Zimerman: Na visita guiada a gente fala sobre ela, ela é uma gaiola de madeira, muito grande, fica apoiada no chão mesmo, e ela tá aqui com uma metáfora dessa ideia de coleção e de museu, a ideia que a gente nunca captura uma coisa por inteiro, então a gente dá o exemplo do pássaro, né? Que mesmo dentro da gaiola, onde ele vai morrer e a gente faz analogia com os livros que a gente tem nas estantes trancadas aqui com os livros raros e a gente diz, que mesmo com os livros trancados nas estantes, bem cuidados e tal, eles sofrem a ação do tempo, amarelam, acidificam.
Mayra: No livro de ficção científica, escrito em 1953, Fahrenheit 451: a temperatura na qual o papel do livro pega fogo e queima, o escritor estadunidense Ray Bradbury retrata uma sociedade em que os livros são proibidos e os bombeiros, em uma cidade em que todas as casas são à prova de fogo, possuem uma nova função: a de queimar livros. A partir da história contada na obra, a gente pode se questionar: O que aconteceria se os livros fossem todos queimados, até o ponto em que o único vestígio de milênios de tradição humanista estivesse presente apenas na memória de poucos sobreviventes?
Lívia: Fora da narrativa distópica, a incineração de livros aconteceu em diferentes momentos da história. Na antiguidade, o imperador chinês Qin Shi Huang mandou destruir obras consideradas subversivas e, no lado greco-romano, temos notícias do lendário incêndio da Biblioteca de Alexandria. Já os eventos da história recente estão mais vivos em nossas memórias. Na Alemanha de 1933, nazistas queimaram em praça pública livros de escritores como Thomas Mann, Einstein, Freud e Marx.
Mayra: Aqui na América Latina, durante o período ditatorial no Chile, Pinochet mandou queimar centenas de livros em forma de censura. Essa perseguição continua presente até os dias de hoje, como nos recentes acontecimentos aqui no Brasil. Em março do ano passado, a Secretaria de Educação de três estados – Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul – pediram o recolhimento nas escolas públicas das cópias do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, proibindo a circulação e a leitura desse livro entre centenas de alunos em formação.
Lívia: Humberto Eco já tinha nos lembrado que “o livro pertence à mesma categoria que a colher, o martelo, a roda e a tesoura. Uma vez inventados, não se pode fazer nada melhor”. A tecnologia do livro é muito eficiente. Enquanto outros objetos materiais como fotos, arquivos e vídeos exigem, com o passar do tempo, um meio material mais tecnológico para serem lidos, o livro se mantém, a ponto de conseguirmos ler um manuscrito de séculos passados, sem necessitar de outros dispositivos, apenas com a leitura atenta e a decifração.
Mayra: Durante todo este episódio nós refletimos juntos em como os livros carregam em si uma memória. Talvez, exatamente por isso, desde o seu surgimento, eles são perseguidos e, em tempos de disputas políticas, são os primeiros a serem considerados como fonte de subversão. Por esse mesmo motivo, ao integrarem bibliotecas-acervos, eles possuem a importante função de patrimônio e de presentificação do passado.
Mayra: Nós temos notícias de que na Grécia antiga, caçadores enigmáticos perseguiam livros para completar a Grande Biblioteca de Alexandria. Esse grande projeto alexandrino visava reunir em um único espaço todos os livros do mundo, sem exceção, em uma grande biblioteca universal. Os pesquisadores que consultam fontes, documentos e acervos históricos hoje em dia são como esses caçadores enigmáticos da antiguidade e tentam desvendar as histórias que se perderam em registros materiais preservados.
Lívia: Você, com certeza, consegue encontrar um livro com muito mais facilidade hoje em dia, e não precisa mais de muitos esforços de viagens e de sacrifícios, como era para os caçadores enigmáticos. Mas, se parar pra pensar nas diferenças de renda e na falta de políticas públicas voltadas à leitura aqui no Brasil, ainda podemos considerar o livro como um objeto raro.
Mayra: Na última edição da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada em 2024, pela primeira vez na história das edições, a proporção de pessoas que não leram um único livro ou mesmo uma parte de um livro é mais da metade da população leitora no país. Com uma redução de 6,7 milhões de leitores em comparação com a edição anterior.
Lívia: Esses dados escancaram a importância da conservação desses acervos bibliográficos, que valorizam o trabalho de pesquisadores, além de preservar, divulgar e disseminar o conhecimento, resistindo ao tempo, ao espaço e ao esquecimento. Além de funcionarem, claro, como espaços de incentivo à leitura.
Mayra: O roteiro desse episódio foi escrito pela Lívia Mendes, que também realizou as entrevistas. A revisão foi feita por mim, Mayra Trinca, que também apresento o episódio e pela Simone Pallone, coordenadora do Oxigênio.
Lívia: A pesquisa teve orientação do professor Rodrigo Bastos Cunha e é parte do meu Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Jornalismo Científico do Labjor. As reportagens deste trabalho também foram publicadas no dossiê “Museus” da Revista ComCiência, que você pode ler na página comciencia.br, o “com” com M de museu. A gente vai deixar o link na descrição do episódio.
Lívia: Os trabalhos técnicos são de Daniel Rangel e Carol Cabral. A narração dos poemas é de Lidia Torres. O Oxigênio conta com apoio da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Você encontra a gente no site oxigenio.comciencia.br, no Instagram e no Facebook, basta procurar por Oxigênio Podcast.
Mayra: A trilha sonora é da Biblioteca de Áudio do Youtube
Lívia: Como a gente falou lá no início, no próximo episódio vamos contar as curiosidades de três bibliotecas acervos, que resistiram ao tempo e estão disponíveis para consulta, leitura e apreciação. Esperamos vocês pra decifrar com a gente essas histórias. Até lá!
Mayra: Obrigada por nos escutar e nos encontramos no próximo episódio.
Referências Bibliográficas
BUARQUE, Chico. Futuros Amantes. In: BUARQUE, Chico. Paratodos. Nova York: RCA Records, 1993.
BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451: a temperatura na qual o papel pega fogo e queima. Tradução de Cid Knipel Moreira. São Paulo: Globo, 2012.
FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. Tradução de Luís Felipe Baeta Neves. São Paulo: Editora da UNESP, 2009.
VALLEJO, Irene. O infinito em um junco: a invenção dos livros no mundo antigo. Trad. Ari Roitman, Paulina Wacht. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2022.