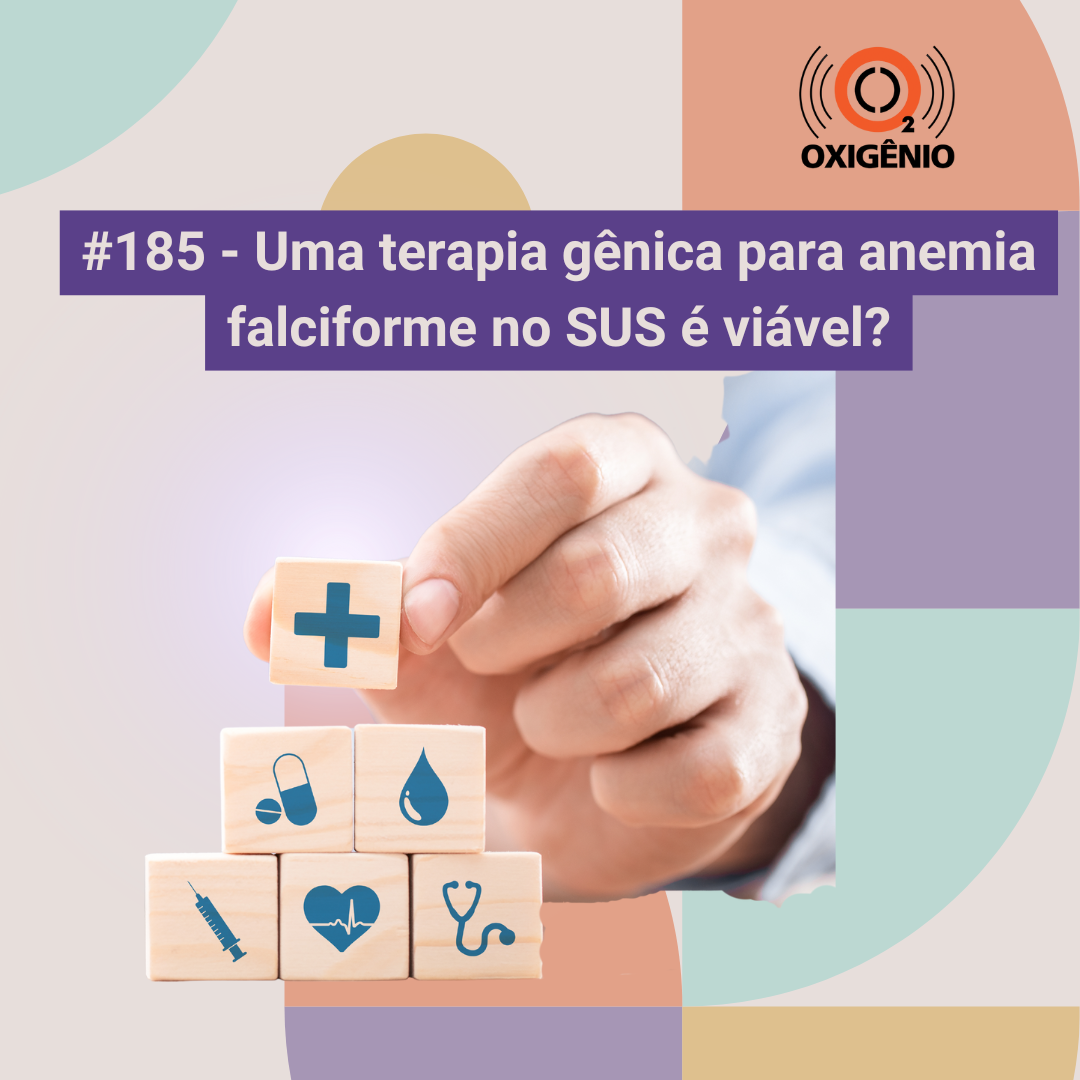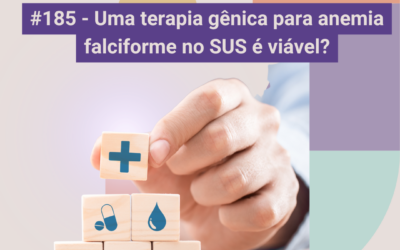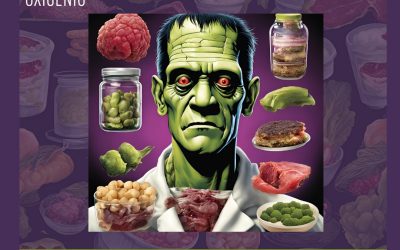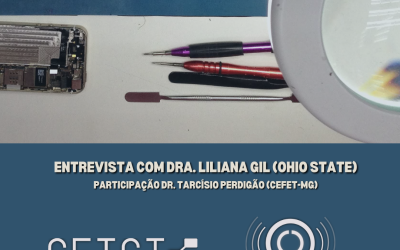Novas descobertas sobre evolução humana sempre ganham as notícias e circulam rapidamente. Mas o processo de aceitação de novas evidências entre os cientistas pode demorar muito. Neste episódio, Pedro Belo e Mayra Trinca falam sobre paleoantropologia, área que pesquisa a evolução humana, e mostram porque ela é cheia de controvérsias e disputas. No episódio você escuta entrevistas com Gabriel Rocha, do IEA-USP, com Bernardo Esteves, autor do livro “Admirável Novo Mundo” e com Mírian Pacheco, pesquisadora e professora na Ufscar. Que contam, a partir de três exemplos muito ilustrativos, como essa área depende e é influenciada pelas narrativas de diferentes grupos de pesquisa.
_____________________
ROTEIRO
PEDRO: Sempre que uma nova descoberta sobre evolução humana acontece, ela rapidamente chega às notícias e costuma ser sucesso de compartilhamento nas redes sociais. É uma área de pesquisa que desperta muito a curiosidade das pessoas, talvez porque muita gente se interesse em descobrir de onde a gente veio, como é que a gente chegou aqui.
GABRIEL ROCHA: Eu acho que essa área da antropologia, da paleoantropologia, ela é uma área perigosa, porque é uma área muito fácil de você conseguir visibilidade. A mídia tá muito interessada no que você tem a dizer, são histórias em que a população tá interessada em saber sobre o que tá acontecendo, é um assunto interessante. Então, a gente acaba tratando com muitos egos inflados ao mesmo tempo e tem uma briga muito grande com relação a isso.
MAYRA: Em todas as áreas da ciência, é comum que novas descobertas levem um tempo para serem aceitas por toda a comunidade científica e esse é um processo importante, já que as críticas refinam as hipóteses, garantindo que elas sejam o mais próximas da verdade quanto é possível. Só que na paleoantropologia, que é a área que estuda a evolução dos seres humanos, essa resistência diante de novas descobertas é ainda maior.
GABRIEL ROCHA: Eu sinto que essa é uma característica muito íntima da arqueologia, de ser uma área um tanto incerta quando a gente vai falar de algumas coisas porque é difícil bater o martelo, é difícil ter certeza do que você está falando. Então a gente sempre trabalha com interpretações, com leituras da situação. E querendo ou não, nós temos escolas de pensamentos diferentes, então algumas escolas vão seguir por um caminho e vão ter uma interpretação válida enquanto outras escolas vão seguir por outro caminho e ter uma interpretação igualmente válida. E eu acho que essa é uma característica importante da arqueologia.
PEDRO: Eu sou o Pedro Belo, sou jornalista, produtor e roteirista do podcast Ciência Suja, e também sou aluno da Especialização em Jornalismo Científico do Labjor – Unicamp.
MAYRA: E eu sou a Mayra Trinca, que você já conhece aqui do Oxigênio. Nesse episódio, vamos trazer três exemplos de como estudar evolução humana é um negócio meio complicado, cheio de interpretações e disputas. O primeiro deles é sobre a origem da espécie humana, onde e quando surgiram os primeiros Homo sapiens?
PEDRO: A segunda briga é quase um clássico pro pessoal dessa área: quem foram os primeiros ocupantes das Américas? Mais do que isso, quando e como essa galera veio parar aqui?
MAYRA: E a terceira fala sobre o surgimento do pensamento simbólico, característica muito usada pra diferenciar a nossa espécie de outras ancestrais, mas que na verdade tá relacionada a visões eurocêntricas da ciência.
[VINHETA OXIGÊNIO]
PEDRO: Pra começar o nosso primeiro exemplo, sobre a origem dos Homo sapiens, a gente conversou com esse que você escutou no início do episódio, o Gabriel Rocha. O Gabriel é graduando em Biologia na Unesp de Botucatu, e atualmente é pesquisador bolsista da Fapesp no Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA-USP.
MAYRA: O Gabriel trabalha diretamente com o Walter Neves, professor titular do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva na USP, uma referência nessa área, e considerado o “pai” da Luzia, o crânio humano mais antigo das Américas, estimado em 11 mil anos de idade.
PEDRO: O nosso entrevistado estuda especialmente a variabilidade morfológica dos crânios dos nossos ancestrais mais antigos. E esse é um trabalho bem importante, porque essas análises da morfologia, que é o estudo da forma, das características estruturais de cada ser vivo, serve, nesse caso, pra determinar a qual linhagem cada esqueleto encontrado pertence.
GABRIEL ROCHA E é isso que vamos usar. Então fazem as análises morfológicas para tentar entender se esse fóssil ele se encaixa nas espécies que a gente já conhece ou se ele é muito diferente, pode ser uma espécie nova, isso é muito comum também. Tem espécies novas sendo descritas todos os anos e o grande problema é que as análises morfológicas elas vão variar muito, dependendo de quem faz as pesquisas. Então dependendo de quais fósseis você vai usar para analisar e dependendo de quais parâmetros você tá usando pra, por exemplo, definir quais são as espécies. Então essas disputas de narrativas, elas vão ser muito importantes.
PEDRO: O que acontece é que cada novo fóssil encontrado precisa ser encaixado numa linha cronológica que já foi mais ou menos estabelecida, depois de décadas de estudos anteriores. Às vezes, essa nova descoberta cabe direitinho numa linhagem já conhecida, e atende a hipótese, ou a expectativa, dos pesquisadores envolvidos, mas às vezes não.
MAYRA: O Gabriel contou pra gente o caso de alguns esqueletos encontrados em Jebel Irhout, no Marrocos, que tinham bastante semelhança com a morfologia do Homo sapiens, a nossa própria espécie, mas na hora da datação, a conclusão foi de que os fósseis tinham coisa de 315 mil anos.
GABRIEL ROCHA: O grande problema é que, os sapiens mais antigos que a gente conhece, eles estão ali entre 200 e 230 mil anos. Então esses novos fósseis eles estariam estendendo a origem do Homo sapiens, né? Pelo menos em 100 mil anos aí.
MAYRA: Só que, apesar de muito parecidos, a estrutura do crânio desses fósseis encontrados no Marrocos não é exatamente igual a dos Homo sapiens, ela é mais alongada e achatada, e não redonda como é a nossa cabeça. Isso indica que na verdade esses fósseis são de uma espécie ancestral, que provavelmente estava na base da origem dos sapiens propriamente ditos. E isso está dito no artigo que os cientistas do Instituto Max Planck, da Alemanha, publicaram descrevendo os fósseis de Jebel Irhout.
GABRIEL ROCHA: E o grande problema é que aí, quando é esse artigo foi para mídia, comunicação toda e os próprios pesquisadores começaram a falar que eles encontraram Homo sapiens mais antigo. E aí o artigo ele estourou muito por causa disso.
PEDRO: Ou seja, a repercussão que o artigo teve na mídia fez com que os pesquisadores mudassem um pouco o discurso, abraçando a ideia de que esses fósseis eram os primeiros exemplares da linhagem humana. Esse tipo de coisa rende prestígio e reconhecimento pro grupo, o que pode facilitar a arrecadação de verbas pra novas pesquisas, que são realmente bem caras e precisam mesmo de financiamento.
MAYRA: Só que nem todo mundo concorda em incluir esses fósseis no quadradinho da espécie humana, como é o caso do grupo de pesquisa que o Gabriel faz parte aqui no Brasil. E aí, enquanto não aparecem mais evidências, ou enquanto um grupo não convence o outro daquilo que está propondo, a discussão permanece em aberto.
PEDRO: Mas a história não para por aí, meu caro ouvinte.
MAYRA: Além da possibilidade desses fósseis significarem que a espécie humana começou a existir antes do que se pensava, eles também podem mudar o lugar onde ela começou. Isso porque estava estabelecido que os sapiens surgiram no leste africano, só que esses fósseis foram encontrados no Marrocos, no oeste, do outro lado do continente. Essa descoberta pode indicar que os primeiros humanos estavam muito mais espalhados pela África do que se pensava antes.
PEDRO: Mesmo que esses novos fósseis sejam considerados como Homo sapiens e com isso, mudem a história que estava contada até aqui, isso não significa necessariamente que as descobertas anteriores estivessem erradas. Como o Gabriel comentou no comecinho do episódio, a paleoantropologia é uma área de pesquisa cheia de incertezas e abordagens diferentes, e lidar com elas faz parte do trabalho.
MAYRA: Por exemplo, a datação de fósseis, processo de estimar há quanto tempo atrás aquele ser estava vivo, é uma etapa importantíssima na tarefa de tentar encaixar novas descobertas na linha cronológica da evolução. A datação por carbono 14, uma técnica muito famosa que você provavelmente conhece ou já ouviu falar, funciona muito bem, mas só para um passado relativamente curto.
PEDRO: E aí vamos pensar em perspectiva aqui, tá? Não é curto pra nós, que estamos vivendo agora, mas é curto pra história da evolução humana, que levou milhões de anos.
GABRIEL ROCHA: Você vai basicamente ver a proporção do carbono 14 naquele material, só que o grande problema do carbono 14 é que ele é pouquíssimo usado para evolução humana, porque ele só atua para períodos muito recentes, então a datação por carbono 14, ela vai bem até uns 45 mil anos, para materiais mais velhos que isso ela já não é útil. E aí, quando a gente vai para escalas de milhões de anos, por exemplo, aí a gente começa a usar outros elementos como o urânio, o tório, o chumbo. Esses vão ser mais úteis.
PEDRO: A datação por decaimento químico, que usa elementos como o carbono 14 ou o urânio, funciona medindo a quantidade desses elementos que ainda existe ali no material. Isso porque, ao longo do tempo, os átomos desses elementos têm a tendência de emitir partículas, mudando a sua forma e se transformando em outras variações mais estáveis desses elementos. Aí, sabendo quanto tempo demora pra isso acontecer, a gente sabe há quanto tempo esse material tá fossilizado.
GABRIEL ROCHA: Mas existem outros métodos também, hoje em dia se faz muito a datação por paleomagnetismo, e essa é uma parte nova da datação que acho que nem os geólogos entendem muito bem, porque eu já conversei com alguns é bem difícil, mas a galera tem aplicado bastante. E a gente tem também aquelas datações por estimulação óptica, então basicamente eles vão medir o nível de luz que sai do elemento e isso vai dar ali uma uma faixa temporal. A grande questão das datações é que não é todo sítio que dá para datar facilmente. Então para a gente datar esses materiais é importante ter uma estratigrafia muito bem delimitada, onde esses materiais foram encontrados então, as camadas da terra onde eles estão depositados é importante que elas sejam bem marcadas para a gente conseguir falar: “bom eu encontrei esse crânio nessa camada, vamos datar essa camada e aí a gente sabe a datação do crânio”.
MAYRA: Só que, como estamos falando em escalas de milhões de anos, qualquer variação que pode ocorrer nos testes aumenta a janela de possibilidades em milhares de anos, o que torna esse estudo um tanto incerto por natureza. Ainda assim, é um passo essencial e que influencia muito na compreensão dos passos evolutivos.
GABRIEL ROCHA: A datação ela é um ponto chave para essa área porque ela que vai estabelecer a nossa interpretação desse material. Um caso interessante é o do Homo naledi que ele tem uma morfologia muito primitiva, então ele tem braços compridos que é uma característica de Australopithecus, ele tem pernas mais curtas um cérebro pequeno. Então quando descobriram esse fóssil, eles já imaginaram ah, esse material tem aí seus dois milhões de anos, é um Australopithecus. E aí quando fizeram as datações viram que o material tinha 200 mil anos, que era super recente. Então deu uma mexida assim muito importante na nossa compreensão dessas morfologias.
PEDRO: É nesses momentos, quando uma descoberta mexe com o que já estava pré-determinado, que as disputas de narrativas, pesquisadores e grupos de pesquisa se tornam mais intensas. Isso porque a paleoantropologia é uma área muito custosa, mas que rende muito reconhecimento. E aí, quem tem mais credibilidade costuma levar vantagem.
GABRIEL ROCHA: Em especial o Brasil, que é um país que está começando agora a produzir pesquisa nessa área, tem sido muito difícil assim conseguir entrar nesses espaços.
MAYRA: O problema é que credibilidade é um negócio que demora pra se construir no meio científico. E isso faz com que grupos mais antigos de pesquisa sejam vistos como mais confiáveis. O que pende a balança pra países que investem em ciência há mais tempo, como países europeus, ou que tem muito dinheiro investido nisso, como os Estados Unidos. Nessa, os grupos do Sul Global penam pra fazer suas descobertas serem aceitas pela panelinha do norte.
PEDRO: O Gabriel trouxe um exemplo bem ilustrativo de como essa influência no meio acadêmico pode interferir no desenvolvimento de novas pesquisas. Escuta só:
GABRIEL ROCHA: O Sahelanthropus, ele é tido como nosso ancestral mais antigo, o primeiro membro da nossa linhagem, ele tem sete milhões de anos. E o pesquisador que descobriu ele é um francês. Esse material foi publicado no início dos anos 2000 e ninguém pode fazer pesquisa com esse material. O crânio, ele tá guardado a sete chaves e tem relatos de pesquisadores que foram até a sala desse pesquisador francês, e na sala tinha réplicas de primeira geração. E as pessoas pediram para fotografar as réplicas. E isso não era permitido também, então existe um protecionismo muito forte com relação de: “Ah, esse é o meu fóssil, só eu vou publicar com ele, eu gastei muito dinheiro para conseguir isso, então ninguém vai tirar isso de mim.”
[CHAMADA ARTIGO 158]
MAYRA: Nosso segundo exemplo que ilustra essas disputas talvez seja o mais voraz de todos, no bom e no mau sentido. É a briga pra entender quem foram os primeiros humanos a ocupar as Américas. Quando eles chegaram, por onde chegaram, se foi um povo só, se foram povos diferentes chegando de maneiras diferentes.
PEDRO: Sobre isso, cabe bem a gente falar sobre a Niéde Guidón. Talvez você já tenha ouvido falar dessa arqueóloga franco-brasileira, e do trabalho da equipe liderada por ela desde a década de 1970 na região da Serra da Capivara, no Piauí, que lançou um monte de perguntas e ondas de choque do Sul para o Norte Global.
MAYRA: A Niéde é uma figura meio controversa, mas que é bem importante pra arqueologia brasileira. Isso porque os sítios onde ela trabalhou possuem indícios da ocupação humana há mais de 30 mil anos, um número meio subversivo pro atual consenso em torno da questão. Mas a gente vai ver que é ainda mais complicado que isso.
PEDRO: A atuação da Niéde foi muito valiosa pra criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, um patrimônio histórico da Unesco. Recentemente parece que ela também tá se transformando numa figura “pop” e virou o assunto principal do livro “Niéde Guidón: uma arqueóloga no sertão”, da jornalista Adriana Abujamra, publicado agora em 2023 pela Editora Rosa dos Tempos e tem também uma série de podcasts sobre ela pra sair em breve.
MAYRA: A saga da Niéde também foi o ponto de partida pro Bernardo Esteves, repórter de ciência da revista Piauí, escrever seu livro “Admirável Novo Mundo: uma história da ocupação humana nas Américas”, lançado agora em outubro de 2023 pela Companhia das Letras.
PEDRO: Uma das perguntas que essa e outras pesquisadoras vem tentando responder é de onde vieram os primeiros humanos que chegaram nas Américas. Uma das ferramentas usadas pra isso hoje são os testes genéticos, que compararam o DNA extraídos dos esqueletos desses primeiros habitantes com o DNA de populações de várias regiões do mundo, tentando achar com qual ele se parece mais.
BERNARDO: A genética tem um retrato de quem são esses que chegaram entre 16 mil e vinte mil anos atrás, né. Assim, cada vez mais a genética é um uma ferramenta muito importante para os estudiosos dos primeiros americanos, porque ela nos permite entender biologicamente quem são, né?
PEDRO: Eu conversei com o Bernardo pra um episódio da última temporada do Ciência Suja, que a gente vai citar mais adiante. Mas o que ele tá dizendo é que por mais que a genética seja uma ferramenta importantíssima pra gente entender as linhagens e o parentesco dos primeiros americanos, ela não tem todas as respostas.
BERNARDO: Mas ainda tem esse impasse né? Assim seja quem for esse grupo de primeiros americanos que a genética diz que entrou entre 16 e 20 mil anos atrás não são eles as pessoas que perfuraram os osteodermos de preguiça gigante em Santa Elina, porque aquilo tem mais de 20.000 anos, né?
MAYRA: Esses osteodermos são pedaços de ossos de preguiças-gigante que teriam sido manipulados por seres humanos há cerca de 27 mil anos. O impasse que o Bernado citou acontece porque eles são bem mais antigos do que o período que se acredita que os primeiros humanos teriam chegado no continente. E tem mais:
BERNARDO: Certamente esses não são os primeiros americanos, por mais antigos que eles sejam porque para eles estarem ali há 27.000 anos, eles tinham muito chão para percorrer, né? Tem milhares de quilômetros, seja do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico ou do da entrada da América Central, né? Enfim, certamente tinha um caminho longo a percorrer.
PEDRO: O discurso mais defendido hoje diz que os primeiros humanos chegaram numa janela de tempo conhecida como o Último Máximo Glacial, que é quando o trecho entre o Alasca e a Sibéria estava todo congelado e permitiria a travessia a pé entre os dois continentes, a Ásia e a América do Norte. Isso teria acontecido entre 16 e 20 mil anos atrás, como o Bernardo citou.
MAYRA: Esses objetos, os osteodermos, estão no centro de um estudo publicado em junho de 2023 por duas pesquisadoras brasileiras, na revista Proceedings of the Royal Society B. São ossinhos que foram furados e polidos. As pesquisadoras Mírian Pacheco e Thaís Pansani, que assinam o artigo ao lado de uma equipe que trabalha há décadas estudando o sítio de Santa Elina, chegaram a achar indícios de que eles foram deformados pelo uso contínuo, como se fossem brincos ou algum tipo de adorno suspenso.
PEDRO: Um dos problemas que os estudos da Niéde, da Mírian e da Thais enfrentam é a raridade de esqueletos preservados. É que existem uma série de questões físicas, relacionadas ao clima e à acidez do solo no Brasil. Elas dificultam a preservação desse material biológico. Então o estudo genético e morfológico desses nossos ancestrais só consegue ir até certo ponto.
MAYRA: E é por isso que as equipes na Serra da Capivara, e em outros sítios como Santa Elina, no Mato Grosso, acabam tendo que trabalhar apenas com indícios da ocupação humana, e esse caldo dá uma entornada ainda maior quando o negócio é estudar esse tipo de evidência.
PEDRO: Isso porque, sem os esqueletos, há sempre uma dúvida pairando no ar se esses objetos realmente foram manipulados por humanos. Por exemplo, restos de carvão podem indicar uma fogueira, mas também podem ser resultado de fogo natural. Ossos podem ter sido perfurados por humanos, ou pela ação do tempo. Por mais robustas que sejam as evidências, isso é adotar uma outra abordagem pra estudar o assunto, não mais ligada às características morfológicas ou genéticas da espécie em si, mas aos registros das ações e comportamentos desses seres humanos.
PEDRO: O que esse impasse diz pra gente é que, dependendo da abordagem, a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas sobre a ocupação humana nas Américas.
MAYRA: O fato é que esses osteodermos foram encontrados em sítios onde há evidências robustas de que havia ocupação humana, e eles foram muito estudados e datados, indicando que havia uma interação humana com a preguiça gigante, que é um animal da megafauna, que viveu durante o Pleistoceno, período que terminou há 11 mil anos. Nós falamos sobre isso no episódio número 50 do Oxigênio, ouve lá depois que terminar esse aqui. Vamos deixar o link na descrição no site. [https://www.oxigenio.comciencia.br/50-tematico-quem-matou-a-ultima-preguica-gigante/]
Mas vamos ouvir a Mirian Pacheco sobre como foi feita a pesquisa em Santa Elina.
MÍRIAN PACHECO: Foram feitos três tipos de datação diferente em três tipos de material diferentes. Que deixam a idade ali em torno dos 27 mil anos mesmo, então a gente conseguiu reunir evidências o suficiente para mostrar não apenas que os seres humanos trabalharam nesses ossos de preguiça, né? Nesses osteodermos enquanto a carcaça ainda não havia sido fossilizada
PEDRO: A Mírian Pacheco e a Thaís Pansani também foram entrevistadas pro episódio do Ciência Suja. Mas como a gente não entrou muito nessas especificações mais técnicas sobre datação por lá, a gente pediu pra Mírian explicar por áudio como foram feitas essas datações, e ela demorou um pouquinho pra responder – porque, né, correria de final de ano, ninguém merece – mas no fim respondeu com dezenas – sim, dezenas – de áudios muito detalhados sobre os processos de datação.
MÍRIAN PACHECO: Os materiais arqueológicos datados foram desde os ossos das preguiças gigantes, até microcarvões, associados ao que nós consideramos ser algum tipo de estrutura fogueira que foi construído ou realizado pelos seres humanos que ocuparam ali o Abrigo de Santa Elina…
MAYRA: Pros ossinhos e os microcarvões, foram usadas técnicas de datação por decaimento radioativo, usando carbono 14 e urânio tório, que a gente já explicou agora há pouco. Mas também teve outra coisa que elas estudaram:
MÍRIAN PACHECO: Fragmentos de quartzo, que é um tipo de mineral que pode ser encontrado tanto nos sedimentos, que formam os níveis arqueológicos, como em restos de materiais, de rochas que foram utilizados pelos seres humanos na pré-história pra confecção de ferramentas.
PEDRO: Pra esses grãozinhos de quartzo foi usada uma outra técnica: a datação por luminescência opticamente estimulada. É um nome bem complicado pra uma técnica que estima a última vez que aqueles grãos viram a luz do sol. E ainda assim, segundo a própria Mírian, todos esses tipos de datação vão apresentar algum tipo de erro ou limitação. Por isso que é importante aplicar todos os meios e técnicas disponíveis em todos os materiais e objetos disponíveis.
MAYRA: O fato é que, como a gente falou no início do bloco, são abordagens diferentes pra uma questão muito complexa e multifacetada. Tanto os dados genéticos quanto os arqueológicos têm suas limitações. Aquela analogia meio batida do arqueólogo com o detetive, que vai juntando peças de um quebra-cabeça complexo pra reconstruir o que aconteceu, não cabe exatamente aqui.
PEDRO: Não cabe porque a gente tá falando de evidências espalhadas por todo um continente, que se estende praticamente do pólo norte ao pólo sul do globo, e essas evidências são referentes a períodos que vão de 11 mil a pelo menos 27 mil anos atrás.
MAYRA: Se couber outra analogia, – e tão batida quanto, vá lá – talvez seja a de que a nossa compreensão sobre essa questão ainda tá só na pontinha do Iceberg. Ainda tem uma montanha de coisas pra, literalmente, desenterrar.
PEDRO: E nesse caso específico aqui, a gente tem divergências que, no final das contas, ajudam a montar esse quebra-cabeça. Inicialmente são partes distintas, até meio distantes desse enigma, mas que no futuro podem fazer sentido. Enquanto isso, essas divergências ajudam a gente a construir conhecimento científico. MÍRIAN: E a gente tem pontos fortes e pontos fracos nessas duas abordagens. Em algum momento da ciência essas abordagens Principalmente quando o cientistas que trabalham com a genética e os cientistas que trabalham mais com dado Arqueológico quando a gente começasse comunicar mais talvez a gente refine mais esses dados sobre a ocupação das américas
MAYRA: Mas tem outro tipo de divergência bem menos saudável em relação à ocupação humana nas Américas.
PEDRO: Por grande parte do século passado, imperou a visão de que um povo só foi o primeiro a chegar e o único a colonizar o continente, um paradigma conhecido como a “primazia de Clóvis”.
MAYRA: Esse paradigma levava o nome da cidade norte-americana de Clóvis, no Novo México onde os primeiros indícios dessa civilização foram encontrados.
PEDRO: E era uma ideia defendida com unhas e dentes, principalmente pelos pesquisadores dos Estados Unidos, e que certamente teve – e ainda tem! – um peso nas correntes pra descredibilizar o trabalho em sítios arqueológicos brasileiros como os da Serra da Capivara ou Santa Elina, por mais que ali possam existir problemas ou limitações nas abordagens. Pra você ter uma ideia, tinha até uma tropa de choque de pesquisadores conhecida como “a polícia de Clóvis”, que defendia esse paradigma como um dogma mesmo.
MAYRA: Mas essa parte da treta a gente deixa pro pessoal do Ciência Suja, que lançou o episódio “Achados, Roubados e Apagados” só sobre isso. Ele é parte da temporada especial deles sobre colonialismo científico. Se você ainda não escutou, fica mais essa a dica pra escutar depois de terminar esse aqui.
PEDRO: Mas resumindo: é importante aqui a gente conseguir separar o que que é polêmica saudável, que ajuda a ciência a avançar, do que muitas vezes é um problema profundo, um fato social que tem a ver com o contexto em que a ciência é produzida, mas que não tem lá muito a ver com a produção do conhecimento científico em si. Pensando nisso, a gente vai deixar aqui um último exemplo pra você entender como as ideias pré-estabelecidas podem acabar prejudicando o avanço científico quando são tomadas como verdade absoluta.
MAYRA: Um dos elementos utilizados pra definir a espécie humana é a capacidade de pensamento simbólico, que é a atribuição de significados abstratos pras coisas, e que pode estar por trás, por exemplo, dos pingentes feitos com os ossos de preguiça gigante que a gente falou. A gente vai trazer de volta o Gabriel Rocha pra falar sobre isso.
GABRIEL ROCHA: O pensamento simbólico, ele pode ser encontrado no registro arqueológico através de manifestações artísticas, por exemplo. Então as pinturas rupestres são exemplos de comportamento simbólico, as gravuras rupestres, ornamentação corporal, então colares ou pintura no corpo, e os enterros também vão entrar nisso, esculturas, então aquelas Vênus, as figuras de Vênus que a gente conhece. Todos esses são exemplos de comportamentos simbólicos.
MAYRA: Esses registros de comportamento simbólico começaram a ser achados e estudados especialmente na década de 80. Os materiais mais antigos tinham 45 mil anos e tudo indicava que esse tipo de pensamento só começou a existir a partir do momento que os humanos chegaram na Europa, afinal, era o único local de registro.
GABRIEL ROCHA: E é justamente a 45 mil anos que o Homo sapiens chega a Europa. Então a história que foi se formando é que o Homo sapiens, ele surge na África e ele passa aí seus 100, 150 mil anos no continente africano sem produzir comportamento simbólico, sem manipular símbolos. E a partir do momento em que ele sai da África, que chega à Europa essa espécie ela passa por o que eles chamam de explosão criativa do paleolítico superior.
PEDRO: A partir daí, vários artefatos, pinturas e gravuras passaram a aparecer por toda a Europa. Bom, se só existem esses registros lá, essa hipótese faz sentido, certo?
GABRIEL ROCHA: O grande problema que foi muito exposto por duas pesquisadoras muito importantes da área, num artigo excelente que ele é chamado de The Revolution That Wasn’t, a revolução que não ocorreu nos anos 2000, elas publicaram uma grande revisão mostrando que a gente não encontra nada no continente africano ou nos outros continentes porque a gente só tá olhando para Europa. Então o que elas mostraram é que o número de sítios arqueológicos conhecidos na Europa era absurdamente maior do que o número de sítios desconhecidos na África, então a gente não tava olhando para África, não tava pesquisando a África. E quando começam essas pesquisas, eles começam a achar. Então começam a encontrar na África coisas muito mais antigas do que 45 mil anos, começam a encontrar exemplos de gravuras, exemplos de produção de ocre para pintar o corpo, miçangas, colares. Eles começam a encontrar materiais com 80 70 130 Mil Anos 200 mil anos.Hoje a gente já tá falando aí de materiais com possivelmente 300 400 mil anos.
PEDRO: Ou seja, se a gente tivesse tomado como verdade absoluta o conhecimento pré-estabelecido a partir dessas bases eurocêntricas, a gente teria perdido milhares de anos de história da evolução humana. E o mesmo vale pros indícios de ocupação humana na América do Sul, que hoje a gente vê que são bem mais antigos do que se acreditava. Como e quando eles chegaram lá e vieram a ocupar o continente, a gente não sabe direito ainda, mas tem evidências fortes de que já tinha gente por aqui, vivendo e fazendo coisas, bem antes do que se imaginava.
MAYRA: Por isso, esses enfrentamentos são tão necessários para o avanço da ciência, porque garantem que estamos explorando todas as possibilidades e assim, diminuindo cada vez mais as brechas do conhecimento científico.
MAYRA: Esse episódio foi produzido roteirizado e apresentado por mim, Mayra Trinca
PEDRO: E por mim, Pedro Belo. A revisão é da Simone Pallone, coordenadora do Oxigênio. Os trabalhos técnicos são de Elisa Valderano e trilha sonora do Blue Dot Sessions.
MAYRA: O Oxigênio tem apoio da SEC – Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e do SAE – Serviço de Apoio ao Estudante.
PEDRO: Você encontra todos os episódios no site oxigenio.comciencia.br e também na sua plataforma de podcasts preferida. Procure a gente nas redes sociais. No Instagram e no Facebook você nos encontra como Oxigênio Podcast. Segue lá pra não perder nenhum episódio e obrigado por escutar!